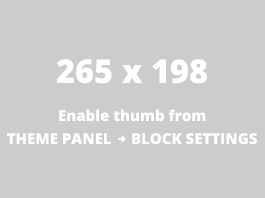Tradução de Furiosa do texto de GlossWitch
“Se homens pudessem engravidar, o aborto seria sagrado”. Raramente a hipocrisia acerca do aborto foi capturada de forma tão sucinta quanto nessa frase de Florynce Kennedy em 1971. Em 57 caracteres facilmente twitáveis Kennedy captura a arbitrariedade da relação entre sexo, poder e reprodução, identificando o gênero — em oposição a biologia, religião ou viabilidade fetal — como a razão de mulheres não terem acesso a interrupções. O problema, nós vemos, não é sobre a essência da gravidez, mas como ela situa mulheres dentro de uma hierarquia social, cultural e econômica. É uma frase que ainda hoje ressoa, ou, ainda, ressoaria, não fosse pelo fato de que sua premissa básica tem sido provada falsa. Homens podem engravidar; aborto, por outro lado, continua tão estigmatizado quanto antes.
A quantidade de homens que nutrem crianças não é muito claro. No último Novembro foi reportado que 54 homens australianos tinham dado à luz ao longo do último ano. O cidadão estadunidense Thomas Beattie foi o primeiro homem legalmente registrado a carregar uma criança em 2007, enquanto que em 2012 o Pink News anunciou o primeiro homem inglês a dar à luz. Escrevendo para o Huffington Post, Trevor MacDonald sugere que “pessoas trans, genderqueer e intersex têm parido há tanto tempo quanto pessoas identificadas como mulheres”. Certamente, o corpo grávido não presta muita atenção a como um indivíduo se autodefine.
Alguém poderia perguntar em que ponto fica a análise feminista sobre as relações de poder que envolvem direitos reprodutivos. “Reduzida a uma lorota” seria a resposta mais honesta. Nós sabemos que reprodução é uma questão feminista; nós só não sabemos mais como, ao menos não sabemos mais se tem alguma coisa a ver com uma classe definida por potencial reprodutivo presumido. Então nos sobra uma situação em que a maioria das coisas que feministas escrevem e dizem sobre reprodução seria classificada como cissexista, e mesmo se você as pressionasse sobre o assunto, a maioria diria apoiar uma abordagem neutra quanto a gênero. Mas a neutralidade de gênero cobra um preço da retórica atingida por quotes como as de Kennedy. Ela muda o foco do gênero enquanto meio pelo qual os corpos femininos são controlados e problematiza os corpos por si mesmos. Logo, testemunha-se uma suspensão desconfortável entre diferentes opções linguísticas, entre o desejo de ser inclusiva e a necessidade de se dizer o que realmente se pensa.
Ocasionalmente essa tensão chega ao ápice. Por exemplo, ano passado a Aliança de Parteiras da América do Norte (MANA, em inglês) mudou alguns dos termos em seus documentos de competências para se referir a “pessoas grávidas” em oposição a “mulheres” [grávidas] (apesar de ainda haver uma referência a este último termo). Em agosto deste ano uma organização autointitulada Obstetrícia Centrada em Mulheres entregou uma carta aberta à MANA em protesto às mudanças, argumentando que elas constituíam “o apagamento de mulheres da linguagem do nascimento”. Os signatários incluem Ina May Gaskin, uma das ativistas mais conhecidas do parto natural. Seu envolvimento chocou e desapontou muitos, ao ponto de algumas pessoas terem peticionado para que ela fosse removida da lista de conferencistas da conferência Nascimento e Além (Birth and Beyond Conference). Afinal, por que uma linguagem mais neutra deveria ser objeto de objeção política? Se o objetivo é tornar os termos mais inclusivos, certamente eles ainda abarcam as pessoas que abarcavam antes?
É muito fácil repudiar a Obstetrícia Centrada em Mulheres e reputá-las como as más da história. Antes de tudo, elas se intitulam “centradas em mulheres”. Ninguém se autointitula “centrada em mulher” a não ser que sejam um pedaço de retrocessos 70, pertencentes a uma época quando o feminismo era monótono, ignorante e ocupado demais com seu desenvolvimento pra conseguir fazer qualquer coisa. Fazer um alarde por palavras como “pessoas” parece só maldade pura. Com certeza conseguimos deixar essas táticas “exclusivas das minas” onde elas pertencem: com Millie Tant [caricatura típica de feminista — reclamona e autocentrada] nas páginas do Viz [quadrinhos britânicos]. Afinal, quem quer ser o tipo de pessoa que fala do “poder da biologia feminina de dar a vida” com o rosto sério?
No entanto, acho que há um problema com a linguagem neutra e é um de que eu preciso desesperadamente falar. Desde que feministas declararam, em oposição a Freud, que a biologia não é destino, nós temos entrado em confusões terríveis sobre o que realmente queremos dizer. Se sexo é uma construção e a medida da mulher não é se ela tem o desejo e/ou a capacidade de parir, o que o nosso potencial reprodutivo, tão frequentemente usado contra nós, significa em relação a nossa experiência de opressão?
Para muitas de nós, só colocar essa questão já é esmagador. “Biologia”, escreve Sarah Blaffer Hrdy, “passou a ser vista pelas mulheres como um campo semeado de minas, a ser evitado por bem”. Ou, como Adrienne Rich diz, “o corpo foi tornado tão problemático para as mulheres que tem frequentemente parecido mais fácil se livrar dele e viajar por aí como um espírito sem corpo”. Com exceção de que não dá pra fazermos isso quando discutimos concepção, gravidez e parto. Aqui, a diferença entre corpos começa a importar. Ainda por cima, é uma diferença que é crucial a como o gênero funciona. Não podemos simplesmente fazer vista grossa a isso e esperar pelo melhor.
Sexo pode ser uma construção social — eu sinceramente duvido de que qualquer pessoa pense que pessoas com úteros têm a palavra “FÊMEA” impressa em seus ossos — mas é uma que emergiu da identificação de diferenças reprodutivas (tanto a real quanto a potencial). Citando a filósofa Janet Richards, “por uma questão de lógica, antes de se poder justificar as atividades de um grupo fazendo-se referência a suas características gerais, é necessária antes uma justificativa para sua atuação como um grupo separado per se, ao invés de, por exemplo, uni-lo a um grupo maior, dividi-lo em grupos menores, ou analisando-se as ações individuais de cada um”. Homem e mulher existem, não como carne essencialmente imbuída de gênero, mas como entidades linguísticas e categorias políticas que surgem de uma distinção observada, ainda que imprecisamente definida. É claro, distinções podem mudar, mas nesse caso qualquer mudança tem sido mínima; ainda sabemos que algumas pessoas provavelmente podem engravidar e algumas pessoas, não. Do que quer que seja que a chamemos, se podemos ou não falar quem são só de olhar, ainda temos um senso de quem “essas pessoas” são e onde situá-las na hierarquia de gênero.
Se olhamos para como o gênero funciona, não como uma foma de autodefinição, mas como um sistema de classes, a gravidez neutra parece aparentada ao conceito de “sociedade sem classes” de John Major. É uma forma de usar a linguagem para criar a ilusão de desmantelar a hierarquia quando o que você realmente faz é ignorá-la. Gravidez é uma experiência permeada pelo gênero, não porque pessoas grávidas necessariamente se sentem como mulheres, mas porque o corpo grávido é externamente administrado dentro do contexto de seu status de classe sexual subordinada. Porque se esse corpo tivesse um status diferente, “aborto [e liberdade de escolha sobre o nascimento, epidurais e cesárias quando demandadas, mais investimentos em cuidados pré-natais melhores, etc] seria um sacramento”. Precisamos de uma forma de falar sobre isso que permita priorizar a leitura de gênero enquanto classe sexual acima da leitura de gênero enquanto identidade, não como uma forma de excluir pessoas, mas como uma forma de nomear o que acontece a elas e a outras no contexto de opressão baseada em classe.
Em “Quem fez o jantar de Adam Smith?”, Katrine Marçal descreve nossa tendência de discutir a humanidade como se ela fosse “criada fora de classe, gênero, raça, idade, história e experiência — ao invés de por meio de classe, gênero, raça, idade, história e experiência”.
“Ao invés disso, nós vemos circunstâncias; o corpo e o contexto enquanto camadas que devem ser expelidas. Elas embaçam a visão. Se queremos falar sobre como as coisas realmente são, devemos abstrair como as coisas realmente são, pensamos.
Mas ser humano é vivenciado precisamente por meio de um gênero, de um corpo, de uma posição social, de das histórias e das experiências que temos. Não há outro jeito.”
O corpo grávido não é um objeto isolado e solipsisticamente autodefinido. Ele existe no tempo, dentro de um contexto social, histórico e político específico. Pode-se questionar se o gênero existe ou não como entidade apolítica; se ser mulher é se identificar como uma ou ser identificada como uma. Nosso desafio mais imediato, entretanto, é sobre se todas as pessoas grávidas são vistas como pessoas, não se todas as pessoas grávidas são vistas como mulheres. Para falar sobre isso, precisamos falar sobre mulheres enquanto classe. Termos neutros limitam nossa habilidade de fazer isso. Quaisquer que sejam nossas intenções, neutralizar a linguagem não é um ato neutro.