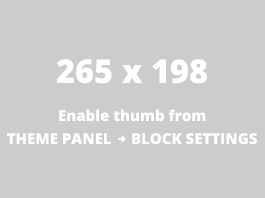Existe uma divisão sexual da guerra, assim como há uma divisão sexual do trabalho.

Olhando para o título que sugeri para este texto, eu me pergunto agora porque coloquei isso como uma pergunta? Por que tão casadinhos? Devo ter me sentido cautelosa! Vamos reformulá-la como uma afirmação e dizer “O gênero é uma força motriz na guerra” – e isso nos dará mais motivos para debater!
O que vou sugerir é que viver a guerra como mulher; ou aliar-se a mulheres que estão passando por guerras; e, especialmente, envolver-se ativamente na oposição à guerra, dá origem a um entendimento particular. É aquele que não faz parte dos livros de estudos padrão sobre guerras.
É a percepção de que o militarismo, a militarização e a guerra são – apenas em parte, mas muito significativamente – impulsionados e perpetuados pelas relações de gênero. Fatores econômicos, como petróleo ou diamantes, conduzem à guerra, sim. Fatores etno-nacionais, como o desejo de matar todos os muçulmanos na Índia, ou todos os cristãos e animistas no Sudão, sim, eles também dirigem à guerra. Mas fatores de gênero também. Eu enfatizo TAMBÉM. Isso não substitui a análise mainstream da guerra pela análise de gênero, mas a propõe como uma parte intrínseca, entrelaçada e inescapável da história.
Essa ideia não é só minha, claro. É basicamente o que Virginia Woolf estava dizendo na década de 1930, e muitas outras desde então. Mais imediatamente, vem da pesquisa que fiz recentemente entre organizações e redes de mulheres que se opõem à guerra. Meu projeto foi financiado por Joseph Rowntree e outros gentis financiadores de ONGs e custou a eles e a mim (e à camada de ozônio) 80.000 milhas aéreas de viagens ao longo de dois anos em 12 países diferentes: Colômbia, Espanha, Bélgica, Turquia, EUA, Itália, Sérvia, Índia, Filipinas, Serra Leoa, Israel e Palestina, bem como o Reino Unido.
Durante esse tempo, ouvi mais de 250 mulheres conversando individualmente ou em grupos sobre mais de 60 organizações a que pertenciam. Eram, na maior parte, pequenos grupos locais, adjacentes a movimentos antiguerra muito mistos. Mas quatro eram redes transnacionais, incluindo o “Women in Black Against War” (Mulheres de Preto Contra a Guerra), no qual eu estou envolvida e algumas de vocês também. É importante para mim manter um pé no mundo ativista e outro no mundo acadêmico, pois acredito fortemente que o conhecimento útil é criado, de diferentes maneiras, em ambos.
O que aprendi com essas mulheres, acima de tudo, é que o gênero e a guerra se moldam mutuamente. Abordarei aqui a forma como a guerra molda o gênero, mas meu foco principal será em como o gênero pode ser visto como causativo na guerra. A razão pela qual acho que é importante fazer essa argumentação é porque acredito que pode ser um recurso no amplo movimento antiguerra que todos nós aqui provavelmente fazemos parte. Voltarei a esta questão no final.
Uma maneira de ver a guerra
Perceber as relações de gênero como uma força motriz na guerra exige que a guerra e o gênero sejam entendidos de uma maneira particular. No caso da guerra, antes de mais nada, você precisa trazer um olhar de sociólogo ou antropólogo para o assunto, não tanto um olhar de Relações Internacionais. Precisamos ver a guerra como social. A guerra pode ser mortal, mas é relacional. Envolve um grau de compreensão compartilhada entre as facções em conflito. Só se a entendermos dessa maneira, poderemos extrair, entre outras, as relações de gênero.
Contudo, o combate entre dois exércitos é apenas a ponta do iceberg, por assim dizer, de um conjunto de instituições e relações subjacentes, menos imediatas, que precisam ser entendidas como um todo interconectado, como um tipo de sistema. O autor mais creditado pelo termo “sistema de guerra” é Betty Reardon em seu texto Sexismo e o Sistema de Guerra (1996). Mas tenho que dizer que tenho um problema com a maneira de ver que ela tem. Betty usa o termo “sistema de guerra” para se referir à (cito) “nossa ordem social competitiva, que é baseada em princípios autoritários, assume valores desiguais entre e dentre seres humanos, e é mantida em vigor por força coercitiva”. Mas, na verdade, eu não acho, no geral, que as feministas que abordam a guerra pensem dessa maneira. Você não pode reduzir a ordem social para nada além de uma ordem de gênero. Está indo longe demais para dizer, como faz Reardon, que cita “o patriarcado autoritário … inventou e mantém a guerra para manter em vigor a ordem social que gerou”. Olhando para a guerra de perto, as mulheres ativistas veem com demasiada clareza os outros sistemas de poder que moldam a ordem social.
Por sistêmico, quero dizer o tipo de sistema descrito na teoria de sistemas dos anos 1970 – quer dizer vê-lo como um conjunto de entidades interativas ou interdependentes, funcionalmente relacionadas, cujas entradas e saídas e fluxos de informação dentro e através de suas fronteiras podem ser observados e analisados. Um “sistema” de guerra, nesse sentido, compreenderia, em primeiro lugar, as organizações (Ministérios da Defesa, fábricas de armas, academias de treinamento e fornecedores militares, chefes do Estado-Maior e seus comandos), em segundo lugar elementos materiais (bombas, encouraçados, balas), e também ideologias governantes (expressas em valores, atitudes e culturas). A guerra vista sistemicamente dessa maneira abre-se prontamente a uma análise de gênero. Suas instituições, digamos, o “complexo industrial militar”, podem ser vistas como lugares de várias dimensões de poder, econômico, nacional e patriarcal. Podemos ver sobreposições e fluxos de informação entre o sistema de guerra e outros sistemas sociais – o sistema educacional, a mídia etc.
Assim, a guerra enquanto ‘relacional’, a guerra enquanto ‘sistêmica’ – e um terceiro qualificador é importante: a ideia de que a guerra é apenas uma fase em uma sequência de condições interligadas como um continuum. Foi das mulheres que conheci durante minha pesquisa que aprendi a enfatizar o efeito do continuum. É porque elas estão ligadas em um movimento internacional, mas cada uma delas está localizada de maneira diferente em relação à guerra à medida que aumenta e diminui. Por exemplo, alguns, como o da Rede de Mulheres Contra o Militarismo são sobre pré-guerra. Seu foco são as bases militares dos EUA no Pacífico e no Caribe, por isso eles são particularmente bem informados sobre a militarização, o estado de preparação para a guerra. Alguns estão no meio da guerra. Como La Ruta Pacifica, na Colômbia, que vem trabalhando pela paz há anos no conflito armado interno tripartido. As Actoras de Cambio na Guatemala estão fazendo o chamado “pós-guerra”, lidando com os terríveis resíduos de violência sexual maciça armada. Em Serra Leoa, as mulheres da Rede de Mulheres da Paz do Rio de Mano estão organizando mulheres ao longo das fronteiras para monitorar os movimentos de homens, armas e drogas para evitar que a guerra comece novamente. Assim, organizações e redes como esta, abrangendo o globo e conectadas por comunicações eletrônicas, tendem a ver a “guerra” não apenas como espasmos de guerra, mas como parte de um continuum do militarismo (como uma mentalidade persistente, expressa em filosofia , editoriais de jornais, think tanks políticos), através da militarização (processos na economia e sociedade que significam preparação para a guerra), a episódios de guerra “quente”, e daí cessar fogo e impasse, seguidos talvez por uma paz instável com sustentada investimento militar, cercado pela violência esporádica que prefigura uma nova rodada na espiral.
Muitos estudos de guerra convencionais (refiro-me a análises não-feministas) refletem essa percepção. Não vou citá-los, porque é entediante, mas muito tem sido escrito, por exemplo, sobre como os altos gastos militares no mundo ocidental foram mantidos apesar do fim da Guerra Fria. Um ex-autor militar escreve sobre o fim da “guerra industrial” e o advento do novo paradigma que ele chama de “guerra entre os povos”. Com isso, o efeito continuum aumentou. A guerra “não é mais um único evento massivo de decisão militar que produz um resultado político conclusivo”. Em vez disso, “nossos conflitos tendem a ser atemporais, uma vez que estamos buscando uma condição que, então, deve ser mantida até um acordo sobre um resultado definitivo, o que pode levar anos ou décadas”. Alguns autores sugeriram que nas guerras civis contemporâneas, na África, por exemplo, derrotar o inimigo na batalha não é mais o objetivo. Pelo contrário, alguns participantes têm interesse em continuar o conflito e institucionalizar a violência a longo prazo.
Através desse tipo de lentes, a guerra é vista como relacional, sistêmica e envolve um continuum em espiral de fases e ciclos, quero mostrar que é útil para nos permitir ver o gênero como causa e consequência.

Relações de gênero no militarismo e na guerra
Antes de mais, preciso dizer algo sobre essa segunda palavra-chave no meu título: gênero. E aqui tenho um problema sobre quanto é preciso ser dito numa audiência feminista como esta. Já dei essa palestra no contexto dos Estudos de Guerra e Paz e, lá, não dá para pegar nenhum atalho com o gênero: você tem que soletrar os fundamentos feministas. Mas aqui vou supor que é dado como certo que o gênero é uma diferença socialmente constituída entre homens e mulheres, com muitas variações culturais. Também vou considerar que você concorda que a ideia de gênero-como-conhecemos deriva de um sistema de gênero-sexo de dominância masculina – que a ordem de gênero não é idêntica em todas as culturas, mas, por outro lado, nenhuma cultura que conhecemos é igualitária entre os sexos ou dominada pelo sexo feminino. Embora, em teoria, pudessem ser.
Trinta ou quarenta anos atrás, era possível se sentir confiante em usar o termo “patriarcado”, o domínio dos pais, para nomear uma ordem de gênero caracterizada pela supremacia masculina. Então, com razão, ficamos autocríticas e, nos anos 80, fomos notando que precisávamos levar em conta as fases históricas da dominância masculina – que ela varia de forma com modos de produção em mudança e a ascensão e queda de impérios. Um momento importante foi a proposta de Carole Pateman de que, desde o Iluminismo, o domínio dos “pais” na sociedade europeia deu lugar ao domínio dos homens em geral. Sylvia Walby nos alertou para uma mudança do patriarcado privado para o público. E, assim, a palavra “patriarcado” começou a soar um pouco arcaica. Por outro lado, ninguém surgiu com uma alternativa satisfatória. “Fratriarcado” e “andrarcado” podem ser mais precisos na Europa ocidental contemporânea, mas essas palavras nunca pegaram. Ficamos com uma realidade muito poderosa que não temos certeza sobre como nomear.
No entanto, lá fora, na prática, na rua, onde quer que eu tenha ido nos últimos anos, no sul global e no norte global, encontrei mulheres no movimento de mulheres antiguerra usando o termo Patriarcado nas conversas cotidianas sem a menor hesitação. Elas conhecem bem o patriarcado – elas vivem nele. Ann Oakley concorda com elas. Ela ainda insiste:
“O patriarcado não é uma doença ancestral, é uma instituição viva. É o modo padrão: o que sempre está lá e sempre acontecerá a menos que seja ativamente contestado (…) Precisamos compreender o que acontece”, ela insiste, “e o que acontece é uma fratura constante de nossa humanidade em formas divisivas e destrutivas de ser e viver.”
No patriarcado, homens e mulheres são especializados, no casal heterossexual os gêneros são complementares e desiguais. Boas qualidades como força e coragem são alocadas aos homens e deformadas como ferramentas para a dominação. Boas qualidades como ternura e cuidado são alocadas às mulheres e se tornaram o emblema da submissão e servitude. Ambas as partes da humanidade acabam sendo menos do que totalmente humanas.
Os homens, em todas as classes sociais e grupos étnicos, embora em alguns mais do que outros, ganham com a agência superior com a qual o patriarcado dota os homens. Ao mesmo tempo, as mulheres, principalmente, se contentam com o patriarcado, nós conspiramos nele, fazemos o seu trabalho. “Estamos perdidas sem ele e perdidas dentro dele”, diz Ann Oakley. E, em contrapartida, as mulheres recebem uma certa importância em uma esfera cuidadosamente definida e limitada – particularmente na reprodução, reproduzindo a vida humana de maneira não-remunerada e remunerada, e reproduzindo a cultura da comunidade. Assumimos outros papéis, mas não somos aprovisionadas com eles.
Então, estamos dizendo que a natureza designou homens como criadores de guerra e mulheres como criadoras de paz? Absolutamente não. Se alguma coisa fez isso, não foi a natureza, mas o sistema social patriarcal. Mas é complicado, não é?
Existe, de fato, uma divisão sexual da guerra, assim como há uma divisão sexual do trabalho.
Isso produz um forte viés de gênero que cria experiências específicas de gênero. MAS as estatísticas nunca são totalmente conclusivas. A maioria dos soldados são homens, mas não 100% deles. A maioria das vítimas de estupro são mulheres, mas não 100% delas. E AINDA ASSIM, sendo exceções à norma, os estranhos 5% também experimentam seu destino anômalo de maneiras profundamente sexistas. (E geralmente quando você recebe uma declaração como essa, seguida por um “mas”, e o “mas” seguido por um “ainda”, isso significa uma interessante contradição que pode ser abordada dialeticamente). Olhando mais de perto a vida dentro dessas estatísticas confusas, o que aprendemos é que não é a mesma coisa ser uma vítima de estupro homem e ser uma vítima de estupro mulher. Não é a mesma coisa ser uma mulher soldado e ser um soldado homem.
Você leu aquela autobiografia incrível de Kayla Williams, uma jovem policial do exército americano no Iraque? Chama-se “Amo mais meu rifle que você” (Love My Rifle More Than You). Ela amava ser uma soldado. Mas abre o livro dizendo:
“Eu voltei para casa há seis meses e ainda tenho que me lembrar quando acordo todas as manhãs: não sou uma vadia”.
Isso é o que seus camaradas do exército faziam essa jovem competente e alegre sentir sobre si mesma. Não é a mesma coisa ser uma mulher soldado e ser um soldado homem. E não é visto como tal.
Novamente, é sempre possível apontar mulheres que incentivam ou participam da violência do conflito armado. Existem muitos exemplos. Para dar apenas um, que surgiu no meu estudo de caso da Iniciativa Internacional para Justiça em Gujarat… Na cultura profundamente patriarcal das organizações extremistas hindus da Índia, as mulheres são tidas como esposas e mães egoístas. No entanto, no massacre de muçulmanos em Gujerat, em 2002, elas eram militantes. Mulheres das alas femininas do Sangh Parivar e outras instituições do movimento Hindutva estavam nas ruas repreendendo os homens por “usar correntes” – em outras palavras, por não ser homem o bastante para matar e estuprar mulheres muçulmanas.
Dizer, então, que “as mulheres são pacificadoras naturais (ou patriarcalmente moldadas)” e que “os homens são propensos à guerra” é perder o ponto. O ponto é que “as relações patriarcais de gênero são propensas a guerras”. O caso do gênero como uma relação de poder implicada na perpetuação da guerra não assenta no que homens e mulheres individuais fazem. Não está escrito em pedra que as culturas em que vivemos irão captar e “normalizar” a performance de gênero de cada um de nós. Alguns de nós escapamos, alguns homens se recusam a servir nas forças armadas, algumas mulheres insistem em fazê-lo. Não há certezas, apenas probabilidades. O caso repousa mais firmemente na própria relação patriarcal de gênero, que é tanto uma relação entre masculinidade e feminilidade quanto entre homens e mulheres, uma relação de dicotomia e complementaridade, heteronormativa, de dominação e subordinação, caracterizada pela coerção e violência. É a própria ordem de gênero que combina com o sistema de guerra de maneiras interessantes e significativas.
Causas da guerra e onde procurá-las
A questão é: quando dizemos que “gênero como o vivemos” é uma das causas da guerra, queremos mesmo dizer literalmente isso? Acho que sim. Mas é claro que o verbo “causar” tem mais de uma inflexão. Brian Fogarty escreve que qualquer guerra particular pode ter múltiplas causas. “No mínimo”, ele diz, “toda guerra provavelmente tem causas imediatas, causas antecedentes e algo como ‘causas raízes’ ou ‘condições favoráveis’ subjacentes a elas”.
Os motivadores econômicos da guerra são frequentemente, nesse sentido, imediatos. Normalmente, eles são bastante claros de se ver, estão escritos nas manchetes dos jornais. O que os agressores estão exigindo? O que os defensores estão defendendo? Nas primeiras guerras, cinco mil anos atrás, poderíamos ver sobre excedentes de grãos ou tributos; hoje pode ser o acesso aos mercados.
A outra causa principal de guerra – questões étnico-nacionalistas, a exterioridade, a expressão dos interesses percebidos de segurança de um eu nacional ou étnico em relação a seus outros – é muitas vezes uma causa antecedente, nos termos de Fogarty, se não imediata. Invasões contra os que estão fora dos muros dos primeiros estados da cidade, ou além das fronteiras dos primeiros impérios. Os chechenos há muito querem sair da Federação Russa, os russos resistem à secessão étnica. Como esse tipo de causa racial na guerra pode ser detectada? Ao ouvir o que os ideólogos estão dizendo, os líderes religiosos. Qual é a propaganda, quem está pondo em circulação? Quais nomes são reivindicados, quais nomes estão sendo imposto aos outros?
Mas, para ver as relações de gênero patriarcais como causa de guerra, é preciso procurar em lugares diferentes. O gênero geralmente se enquadra na categoria de causalidade “causa raiz” ou “condições favoráveis”. OK, talvez o sequestro da mítica Helena tenha sido uma causa imediata das guerras de Troia. E George W. e Laura Bush gostariam que nós víssemos a invasão do Afeganistão em 2001 como uma guerra para salvar as mulheres afegãs da repressão do Talibã. Mas nós não acreditamos neles. As guerras não são realmente travadas “pelas” questões de gênero no sentido de que elas às vezes são feitas “pelos” recursos petrolíferos, ou “pela” autonomia nacional. Em vez disso, elas [as questões de gênero] predispõem as sociedades à guerra. Elas promovem o militarismo e a militarização. Elas tornam a paz difícil de sustentar.
É nas culturas que você tem de olhar para ver o gênero como um fator causal na guerra (ou como consequência da guerra), culturas como elas se manifestam em sociedades antes, durante e depois dos conflitos armados. Qualquer sistema tem que se reproduzir adaptativamente ao longo do tempo. A maneira como o patriarcado se reproduz é pelos processos de masculinização e feminilização – mas particularmente o primeiro. Hombridade e masculinidade têm que ser reproduzidas de uma forma adequada ao poder, nas circunstâncias de cada nova era. Esses processos são processos culturais. É olhando profundamente ao nível da cultura que entendemos a estreita ligação entre o patriarcado e o militarismo. Ambos os sistemas têm um interesse e uma mão na produção de um tipo particular de homem. John Horne, um cientista social que estuda a guerra, tomou um pouco de liberdade com Clausewitz e escreveu, em vez de “guerra é política por outros meios”, “guerra é masculinidade por outros meios”. Para entender a guerra, ele disse, precisamos estudar “a densa vida associativa dos homens”.
No passado, nos Estudos de Guerra, era uma espécie de crença de que você não deveria ver a guerra como um comportamento, mas como algo institucional. Um famoso ditado em um dos clássicos dos Estudos de Guerra é a frase “Agressão não é força, força não é violência, violência não é matar, matar não é guerra”. É claro que eles estão absolutamente certos, de certa forma e até certo ponto: a guerra é uma instituição, não uma briga. A guerra é calculada. Por outro lado, olhar para a guerra enquanto uma feminista, especialmente vendo-a de dentro da zona da guerra, não é tão fácil separar agressão “comum”, força ou violência como “não guerra”. As mulheres estão dizendo que experimentam a coerção dos homens em formas perturbadoramente semelhantes na guerra e no que se chama de paz. A frequente sexualização da violência na guerra é indicativa.
Precisamos, portanto, mergulhar na representação fria das “relações internacionais” da guerra, quebrar o tabu acadêmico de olhar para a “agressividade”, e então, aqui embaixo, no nível sujo de práticas e culturas, quando vemos a violência claramente, fazer perguntas sobre quais os tipos de violência, quem comete contra quem, e o que elas têm a ver, se tiverem, com as identidades de gênero, os antagonismos de gênero e o poder de gênero. A guerra como uma “instituição” é composta, atualizada e reproduzida adaptativamente pela violência como prática banal. Às vezes isso é positivamente cultivado – como vou tentar mostrar agora a partir de alguns estudos acadêmicos de momentos distintos no continuum da guerra.
Momentos no ciclo de guerra
- Fazendo política: a postura da nação
Homens e mulheres sociólogos nos Estados Unidos fizeram análises interessantes da sociedade dos EUA quando esta entrou na guerra do Vietnã, e quando emergiu dela. Vou mencionar duas nas quais pode-se ver claramente as relações de gênero apontando o caminho, por assim dizer, ao longo do continuum da guerra.
Há alguns anos, Robert Dean decidiu olhar para trás, para os mais frios anos da Guerra Fria, e se perguntar como a política externa foi feita. Ele se perguntou como “os homens altamente educados, que se orgulhavam do pragmatismo cabeça-dura, homens que evitavam o idealismo ‘impreciso’, levaram os Estados Unidos a uma guerra tão prolongada, fútil e destrutiva…?”. Ele observou que eles eram o produto de instituições exclusivamente masculinas: internatos, fraternidades da Ivy League e sociedades secretas, unidades militares de elite e clubes masculinos metropolitanos, lugares nos quais as tradições imperiais de servidão e sacrifício eram fomentadas, lugares que eram a fonte, como ele coloca, de “uma ideologia da masculinidade”, imbuindo homens com um tipo particular de masculinidade, criando ritualmente o que ele chama de “fraternidade fictícia de intelectuais guerreiros”.
Essa elite nacional, que desafiava a racionalidade ao levar os EUA à guerra no Vietnã, herdou de seus antecessores um “estado de segurança nacional” dedicado à contenção do comunismo e à expansão de uma ordem econômica mundial capitalista corporativa. Kennedy fez campanha para o cargo com a promessa de deter o declínio dos Estados Unidos numa flacidez e impotência que tinha deixado o país vulnerável à ameaça de um império soviético duro e impiedoso. Os EUA (estas são as palavras de Kennedy) tinham “sido fisicamente, mentalmente, espiritualmente brandos”. A narrativa identitária de “A Irmandade Imperial”, que é como Dean chamou o seu livro, com seu culto de coragem e honra, exigia rígida defesa de delimitações e um desprezo por qualquer coisa que parecesse pacificadora.
2. Recuperação da derrota
Se Dean nos mostra uma certa formulação patriarcal de masculinidade levando um país à guerra, Susan Jeffords nos mostra um patriarcado derrotado em um momento pós-guerra. Estou pensando em seu livro “A Remasculinização da América”, que analisa romances e filmes do período pós-Vietnã – filmes como “Rambo” e “Braddock”. A derrota do poder militar dos EUA por um mero exército de camponeses, o retorno de veteranos incapacitados e traumatizados, foi chocante para o Estado e para os americanos comuns. Os anos de guerra testemunharam o surgimento de uma nova juventude de esquerda, resistente ao recrutamento e uma assombrosa autoafirmação das mulheres no feminismo da segunda onda. Se os Estados Unidos quisessem recuperar o autorrespeito, se quisesse projetar confiantemente seu poder no mundo novamente, estratégias de remasculinização seriam muito necessárias.
Jeffords analisa cuidadosamente um processo que viu acontecer nas relações sociais dos EUA no final dos anos 1970 e 1980, um esforço cultural para colocar o Estado-nação de volta em uma postura ereta. Ela chama aquilo que vê como “uma renegociação e regeneração em grande escala dos interesses, valores e projetos do patriarcado”. Ela mostra como filmes e romances sobre o Vietnã eram o soldado/veterano em pé novamente como herói, como eles celebravam a ligação masculina. Essa reformulação da história do Vietnã eclipsou totalmente as mulheres e o feminino, diz ela. O que ele fez foi curar o veterano ferido, absolvê-lo de fraqueza feminina tão desprezada, e projetar, em vez disso, um governo mesquinho que traíra seus homens.
Então, aqui vemos a masculinidade, normalmente reforçada pela vitória, prejudicada pela derrota. Sua restituição foi o projeto do pós-guerra. E a energia desse ressurgimento, tanto a amargura quanto a superação disso – irá alimentar a guerra futura? Susan Jeffords é explícita que não quer sugerir uma conexão causal entre gênero e a perpetuação da guerra. Mas ela estava escrevendo em 1989… e três anos depois veio a Guerra do Golfo. Não foram apenas feministas que sentiram que um elemento, apenas uma entre as várias forças motrizes por trás da Operação “Tempestade no Deserto” dos EUA, foi uma redenção masculina da derrota no Vietnã. Mais tarde, em 2001, estaríamos detectando o machismo na resposta muscular de George Bush Jr. ao ataque às torres gêmeas.
Gênero como consequência da guerra
Mencionar o 11 de setembro me lembra o novo livro de Susan Faludi, The Terror Dream. E isso me leva a não esquecer de mencionar mudanças nas relações de gênero como consequência da guerra – o outro lado da moeda. Sabe quando você consegue lembrar exatamente onde estava quando ouviu algo pela primeira vez? Foi quando ouvi Dubravka Zarkov dizer “a violência é produtiva”. Nós estávamos de pé em uma pequena sala na Universidade Holandesa de Estudos Humanistas. Foi 8 anos atrás. Ela queria dizer que a violência das guerras iugoslavas não resultava de ódio étnico, como a maioria das pessoas acreditava, pretendia-se produzir, aprofundar a especificidade e a diferença étnica. As pessoas estavam se dando muito bem na Iugoslávia de Tito ao gosto dos nacionalistas. Pode-se saber mais sobre isso no seu livro chamado The Body of War. De qualquer forma, naquela época estávamos trabalhando em um livro sobre masculinidades após a guerra – e ela queria dizer que a violência da guerra também produz uma certa formação de gênero.
Outro relato maravilhoso da produção de gênero em uma forma particular por uma sociedade militarizada, de gênero como consequência, é O Mito da Nação Militar de Ayse Gul Altinay. Ela mostra como, na Turquia, onde o patriarcalismo, o nacionalismo e o militarismo se apoiam visivelmente, se apoiam uns nos outros, se definem na linguagem dos outros, o paradigmático homem turco não é apenas um homem, ele é um soldado.
E, de volta ao The Terror Dream – Susan Faludi explora como na realidade e nas representações da mídia, após o ataque às torres gêmeas, buscava-se por heróis do sexo masculino (paradigmaticamente os bombeiros de Nova York) enquanto as mulheres eram re-feminizadas, retornadas de maneira nocional e até, em certo grau, factualmente, à domesticidade. Uma sociedade que lida com um senso de impotência – é uma consequência de gênero de um ato de guerra.
A violência inerente aos sistemas de poder interligados
Há muitas dimensões através das quais o poder é distribuído na sociedade: a idade, por exemplo; cor de pele; força e habilidades física; ou há, digamos, às vezes uma dimensão urbano-rural em vantagem. Mas, no que diz respeito à militarização e à guerra, acho que é seguro dizer que (1) o poder econômico; (2) poder étnico ou nacional incorporado nas estruturas comunitárias, religiosas e estatais; e (3) poder de gênero, são as dimensões mais significativas e influentes do poder.
Os estudos feministas desenvolveram uma maneira de abordar essa multiplicidade de fontes de poder a partir da perspectiva do indivíduo, usando os conceitos de “lugar de fala” e “interseccionalidade”. São palavras feias e tediosas, às vezes empregadas ao ponto da fetichização, mas são genuinamente úteis porque nos ajudam a levar em conta o modo como o senso de identidade de uma pessoa e a identidade atribuída são parcialmente definidas pelo posicionamento dela/dele em relação não a uma, mas a várias dimensões de poder. Nós nos dizemos isso repetidamente, não é? Que uma mulher nunca é “apenas” uma mulher. Ela pode ser, digamos, branca e rica. Isso significa que, embora ela seja subordinada em termos de gênero, ela tem uma vantagem em termos de classe e raça. Vetores de relações de poder se cruzam nela, como fazem em todos nós, para nos constituir como indivíduos, mas simultaneamente como membros de coletividades desigualmente posicionadas.
Tornou-se meio que um mantra. Mas a questão é a seguinte: ao abordar a guerra, precisamos reconhecer que a interseccionalidade também funciona sempre no nível macro. É óbvio, mas às vezes é obscurecido. As estruturas de poder da classe econômica baseadas na propriedade dos meios de produção, o poder racializante do etno-nacionalismo expresso nas autoridades e estados da comunidade e a hierarquia de sexo/gênero formam em conjunto estruturas sociais humanas, instituições e processos relacionais. Juntos, eles estabelecem posições de poder relativo, estabelecendo assim as possibilidades e probabilidades para indivíduos e grupos que os habitam variadamente. Nenhum deles produz efeitos na ausência dos outros dois. Interseccionalidade significa que não faz sentido procurar as instituições, as estruturas, de poder de gênero especificamente. A família pode parecer ser a “real”, a única. Não é. Poucas instituições, se houver alguma sequer, fazem um trabalho especializado de gênero – ou, para esse fim, um trabalho especializado em economia ou outro tipo de “mobilização de poder”. Uma corporação ou um banco pode parecer “apenas” uma instituição econômica, uma igreja ou uma mesquita pode parecer “simplesmente” uma instituição étnica, uma família pode parecer “apenas” uma instituição de sexo/gênero.
Mas olhe dentro deles e você encontrará todos os conjuntos de relações funcionando ao mesmo tempo: são todas instituições econômicas, étnicas e de gênero, embora com pesos diferentes. Nas corporações, quase todas as pessoas mais velhas são homens. As igrejas frequentemente mobilizam considerável riqueza – e todas as instituições clericais monoteístas são bastiões do poder masculino. A família patriarcal é uma instituição econômica – transmite riqueza por gerações e assim por diante. Não é possível desconectá-los logicamente, nem os próprios edifícios de poder nem os processos que os expressam e sustentam. Eles são intersecionais.
Minha sugestão aqui, então, é que a militarização e a guerra são necessariamente, inevitavelmente, causadas, moldadas, alcançadas e reproduzidas ao longo do tempo através de todas as três dimensões do poder. (Provavelmente mais, mas pelo menos estas.) Se uma estiver operando, as outras também estarão. O drama de gênero nunca está ausente: o macho como sujeito, a fêmea como o outro, o outro como efeminado (quero dizer tanto o “outro” que um homem vê lá fora quanto o outro que ele teme dentro de si). É por isso que uma teoria da guerra e sua causalidade é falha se não tiver uma dimensão de gênero. A maioria das teorias de guerra, no entanto, na sociologia e nas relações internacionais, realmente carece desse elemento necessário. Para aquelas que as envolvem e aplicam, elas parecem perfeitamente completas e satisfatórias sem isso. Quando as mulheres, feministas, acompanham e apresentam nossos insights sobre as discussões da guerra, quando falamos sobre mulheres e gênero, muitas vezes nos dizem que estamos sendo triviais, estamos esquecendo “a figura maior”. Cynthia Enloe é uma pessoa que foi corajosa o suficiente para falar sobre a preocupação com o gênero “mas suponha que isso É a figura maior?”
O que, então, a visão do poder como conjuntos interligados de instituições e relações tem a ver com a guerra? Seu surgimento na sociedade humana, intimamente relacionado no tempo, foram todos processos necessariamente violentos. Todos eles eram processos de constituição de um eu em relação a um outro explorado inferiorizado – o trabalhador sem terra do rico; o estrangeiro odiado do cidadão; a mulher como propriedade dos homens, mercantilizada no preço da noiva, na venda ou no preço de troca, na prostituição e no valor de seus filhos. Todos os três processos foram necessariamente violentos. Uma força de trabalho não vai cavar um sistema canal a menos que seja impulsionada pela fome.
Os estrangeiros não se submeterão à hegemonia do outro se não forem apoiados pela coerção. As mulheres não serão subjugadas sem força. Portanto, não é surpreendente que a guerra institucionalizada tenha nascido junto com o crescente acúmulo de riqueza, o estado inicial e o estabelecimento de patriarcados – inovações que significaram a condição conhecida como “civilização”. O livro intensamente pesquisado de Gerda Lerner, A Criação do Patriarcado, mostra isso acontecendo no final do Neolítico, nas sociedades emergentes do Mediterrâneo oriental. Também foi notado, alguns milênios depois, no hemisfério americano. William Eckhardt, em um grande estudo que analisa muitos outros historiadores sobre a guerra, desenvolve uma “teoria evolucionária dialética”, como ele a chama, sugerindo que quanto mais “civilizadas” as pessoas se tornavam, mais “beligerantes” iam se tornando. Civilização e guerra: é uma correlação que ele acha que persiste em todas as regiões e fases da história.
Mudar o Gênero como parte da luta pela paz
Em conclusão, deixe-me resumir o ponto que fiz aqui. É que, se você olhar de perto para a guerra como sociólogo ou antropólogo, você tem em suas mãos uma lente, uma ótica que revela as culturas, os detalhes do que é feito.
Você vê anúncios de emprego para os militares, você vê a criação de políticas e campos de treinamento, você vê disciplina e indisciplina e trote, camaradagem, assassinato, estupro e tortura. Se, também, você olhar para a guerra como uma feminista, verá o gênero em tudo isso. E você volta para reavaliar o chamado “tempo de paz”. Você vê que a disposição em sociedades como as que vivemos, caracterizada por um regime de gênero patriarcal, é para uma associação de masculinidade com autoridade, coerção e violência. É uma masculinidade (e uma feminilidade complementar) que não só serve muito bem ao militarismo, mas (e este é o meu argumento) procura e precisa de militarização e guerra para a sua realização. Fale com as mulheres das “Actoras de Cambio” sobre a posse de armas na Guatemala do pós-guerra. Sobre o crime crescente. Sobre o feminicídio – duas mulheres por semana em média, estupradas, ritualmente mutiladas e mortas em uma vala.
Sobre o modo como eles, agora mesmo, evitaram eleger um presidente para conseguir uma multa de “esmague a violência com mais violência”. Fracasso em implementar a reforma agrária, o fracasso em acabar com a marginalização dos maias e o fracasso em desmobilizar a masculinidade e acabar com a misoginia, essas três coisas expõem a comunidade do pós-guerra à violência. Elas perturbam a paz. E não apenas na Guatemala.
Às vezes, vemos pequenos passos na direção da mudança do gênero. Mas para cada passo em frente, há um passo atrás. Algumas semanas atrás, no jornal The Guardian (2007), houve um clipe de notícias. No Reino Unido, houve bastante progresso em creches e grupos de brincadeiras em que cuidadores e pais, decididos a não encorajar mais brincadeiras violentas em seus filhos, decidiram livrar a caixa de brinquedos daqueles revólveres e pistolas de plástico. Este artigo afirmava agora que o nosso ministério do governo, o Departamento para Crianças, Escolas e Famílias (e a Ministra das Crianças é uma mulher, Beverley Hughes) tinha agora emitido conselhos de que os meninos deveriam ser encorajados a brincar com armas de brinquedo na creche. Por quê? Foi observado que meninos entre três e cinco anos de idade estavam ficando para trás de suas colegas de classe em todas as áreas de aprendizagem. Isso foi em parte (acreditava o Ministério) porque a equipe do berçário estava tentando conter o desejo dos meninos por jogos turbulentos envolvendo armas.
Os meninos eram mais propensos a se interessar pela educação e, se sentissem encorajados a seguir o jogo escolhido, teriam melhor desempenho. A mudança transformativa do Gênero não está na agenda de todos. Há implicações práticas em tudo isso para nossos movimentos de desmilitarização, desarmamento e paz. Afinal, estamos prontos para reconhecer que uma sociedade sustentável e pacífica vai diferir das sociedades destruídas pela guerra de hoje em mais de uma dimensão. No mínimo, suas relações econômicas devem ser mais justas e iguais, e suas relações nacionais e étnicas mais respeitosas e inclusivas. As mulheres comprometidas em se organizar como mulheres contra a guerra adicionam uma dimensão a essa mudança transformadora. Elas nos pedem para reconhecer que, para sermos pacificamente sustentáveis, uma sociedade também terá que ser aquela em que vivemos o gênero de maneira muito diferente da que é vivida hoje.
R. W. Connell, agora Raewyn Connell, nunca teve medo de construir a teoria a partir do nível cultural, nunca se esquivou do que os estudos culturais nos dizem sobre a masculinidade. Em 2002, do ponto de vista de um homem, ele escreveu “…os homens predominam em todo o espectro da violência. Uma estratégia de desmilitarização e paz deve preocupar-se com este fato, com as razões para isso e com suas implicações para o trabalho de redução da violência… Uma estratégia de desmilitarização e paz deve incluir uma estratégia de mudança nas masculinidades” (p.38). Isso significa que nossos principais movimentos antiguerra, antimilitarista e de paz deveriam logicamente desafiar o patriarcado, bem como o capitalismo e o nacionalismo – e isso não está, na maior parte, em sua agenda. As principais coalizões antiguerra, lideradas principalmente por tendências de esquerda, acham difícil “entender” a história do gênero. Não é fácil para eles verem que, se a organização antimilitarista e antiguerra for forte, eficaz e objetiva, as mulheres devem se opor à guerra não apenas como pessoas, mas como mulheres. E os homens também devem se opor a isso em sua própria identidade de gênero – como homens. Você não deve explorar minha masculinidade para a guerra. Alguns homens muito corajosos dizem isso. Eles são principalmente homens gays que recusam o recrutamento militar em países como a Sérvia e a Turquia. E eles pagam pesadamente por sua masculinidade subversiva. Na verdade, eu gostaria de terminar esta palestra prestando homenagem a Mehmet Bal, o combatente turco da guerra. Ele foi preso há duas semanas e neste momento está na prisão de Adana e é conhecido por ter sido maltratado ao ponto de tortura. Vamos pensar nele.
Obrigada.
Tradução do texto original de Cynthia Cockburn