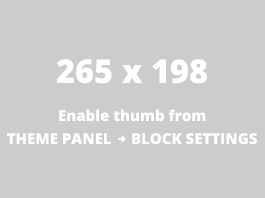Eu sei, há muito tempo a ideia de Sororidade nos incomoda, a todas: primeiro, enquanto conceito que foi apropriado pelo liberalismo, como mais um desses conceitos esvaziados de sentido que reproduzimos, reproduzimos, mas não temos coragem de pensar a fundo e já nem sabemos porque usamos.
Depois, a expressão incomoda a ponto de muitas de nós termos passado a afirmar que sororidade, na prática, não existe; que ela só seria possível em um grupo seleto de mulheres, que priorizam-se a despeito das outras — ou seja, que a irmandade entre mulheres só existiria para legitimar a existência de umas sobre as outras, mais especificamente a realidade de mulheres brancas, em detrimento das mulheres negras. A sororidade, então, da forma que a conhecemos, não seria a irmandade de todas as mulheres, mas um privilégio de brancas alienadas, que preferem ignorar as diferenças entre mulheres.
Em sua carta para Mary Daly, feminista radical lésbica que escreveu Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism, Audre Lorde, feminista radical negra e lésbica, lembra que o diálogo entre mulheres negras e brancas nunca foi algo fácil. Em sua trajetória, Lorde insistia que mulheres deveriam se unir, a partir da consideração de suas diferenças.
A história de mulheres brancas incapazes de ouvir as palavras das mulheres negras, ou de manter um diálogo conosco, é longa e desanimadora. (…) Sinto mesmo que você celebra as diferenças entre as mulheres brancas como uma força criativa favorável à mudança, em vez de considerá-las motivos de desentendimento e desunião. Mas você falha em reconhecer que, enquanto mulheres, essas diferenças nos tornam, todas, vulneráveis a diferentes tipos e a diferentes níveis de opressão patriarcal; alguns são compartilhados, outros não. (Lorde, 2019: 88–89)
Simone de Beauvoir, na introdução de O Segundo Sexo (2009) nos alerta sobre a falta de consciência de classe entre mulheres, que, seja pelo conforto ou pela assimilação, se colocam ao lado de homens.
[As mulheres] vivem dispersas entre homens, ligadas pelo habitat, pelo trabalho, pelos interesses econômicos, pela condição social a certos homens — pai ou marido — mais estreitamente do que a outras mulheres. Burguesas são solidárias dos burgueses e não das mulheres proletárias; brancas, dos homens brancos, e não das mulheres negras. (Beauvoir, 2009: 20)
É isto, de fato a sororidade não existe enquanto instituição. Ela não está dada e muito menos é de fácil elaboração, por isso também incomoda. Temos muita segurança, conforto e amizades a perder no projeto de nos aproximarmos do amor, compreensão e política entre mulheres. O que existe e está dada, publicizada e reforçada a cada instante, é a fraternidade, ou a broderagem, como gostamos de chamar ironicamente o apoio irrefutável de homens para homens. O que existe é a irmandade de homens que se reconhecem como classe: a masculinidade é o movimento que os fortalece dia a dia, há milênios, ao passo que aniquila o nosso grupo social.
A ligação entre homens era um aspecto aceito e afirmado na cultura patriarcal. Simplesmente pressupunha-se que homens em grupos ficariam unidos, dariam apoio uns aos outros, seriam um time e colocariam o bem do grupo acima de ganhos e reconhecimento individuais. A ligação entre mulheres não era possível dentro do patriarcado; era um ato de traição. (bell hooks, 2018: p. 35)
Por isso é tão enlouquecedor que aceitemos a existência dessa irmandade, dessa forma masculinizada de olhar e gerir o mundo, ao passo que negamos a possibilidade da união entre mulheres. É preciso que lembremos que não há nada de novo ou de revolucionário em defendermos com unhas e dentes a dignidade de homens que julgamos amar, ao invés de nos posicionarmos ao lado de mulheres. Não há nada de novo em ficarmos ao lado dos homens, preterindo mulheres.
Uma vez eu disse que acreditava que a sororidade estava no horizonte, tal qual a Utopia de Fernando Birri — mencionado por Eduardo Galeano em ‘Las palabras andantes’ (p. 230). A frase, que eu parafraseio, é:
A Utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a Utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.
O horizonte é justamente onde se localiza a sororidade, a utopia. A sociedade que devemos ter como parâmetro, o lugar para onde olhar ao caminhar, é uma sociedade não só de irmandade entre mulheres, mas uma sociedade de Continuum lésbico, conceito firmado por Adrienne Rich, e que todas deveríamos carregar como uma bandeira que não se abaixa, por nada. Uma sociedade de Continuum seria aquela onde nós, mulheres, viveríamos com nossos afetos, e vidas, e práticas, giradas para e por mulheres. No fim das contas, é disso que se trata o Feminismo, e por isso ele é revolucionário.
Simone de Beauvoir nos alerta para a nossa dificuldade em nos entendermos enquanto classe (p. 13), e fica evidente no restante do famoso ‘Segundo sexo’ como ela tem razão em nos desafiar com essa provocação. Por que saímos em defesa dos nossos algozes, ao invés de nos situarmos ao lado de nossas irmãs? Por que defendemos com unhas e dentes nossa segurança material, ou nosso status, enquanto dormimos com nossos inimigos históricos, nos opondo ao que nos ensinaram mulheres que deram suas vidas pela libertação de outras mulheres? Por que o feminismo que defendemos — ou que o liberalismo aceita — é raso, inconsistente e não caminha para a nossa libertação?
Tem uma frase de Andrea Dworkin que constantemente provoca incomodo, nas oficinas feministas que facilitamos e nas rodas de conversa por aí:
Feminismo é a prática política de luta contra a supremacia masculina, em nome das mulheres enquanto classe, incluindo todas as mulheres que você não quer ficar por perto, incluindo todas as mulheres que costumavam ser suas melhores amigas e que você não quer mais nada com elas. Não importa quem são as mulheres como indivíduos. (…) Feminismo é a oposição ao ódio às mulheres, com o objetivo de alcançar a verdadeira sociedade igualitária. E não pode haver nenhum movimento de mulheres que seja enraizado no ódio às mulheres. Aqueles que pensam que está tudo bem em odiar as mulheres não são feministas.
Muitas mulheres se perguntam se não podem odiar outras mulheres, ou mesmo discordar delas. Definitivamente, não é esta a questão. A questão é que nosso ódio por mulheres tem grandes chances de ser misoginia internalizada, ou seja, grandes chances de ser só a boa e velha rivalidade feminina, da nossa socialização, gritando de novo. As feministas não podemos e não devemos repetir os erros do patriarcado. Não devemos repetir os erros do Sistema Judiciário, reproduzindo seletividade, punitivismo e ódio de classes. É evidente que mulheres podem sentir raiva. Isto é indiscutível. Mas, sem uma análise profunda da origem desse sentimento, costuma ser reprodução de bosta patriarcal mesmo.
Por que temos mais paciência com os erros de homens que os erros de mulheres? Por que damos mais valor ao testemunho de homens que ao testemunho de mulheres? Por que continuamos demandando punição para mulheres que erram? Por que insistimos em apontar o dedo publicamente a outras mulheres, fazendo escracho e chacota com suas ideias e comportamentos? Sabe-se: porque somos criadas para servir aos homens — compreendemos, aceitamos e celebramos suas linguagens misóginas e punitivistas. Nada disso cabe no horizonte, na sororidade, no continuum lésbico. Por isso esses conceitos são incômodos. Janice Raymond nos lembra que:
Mulheres têm sido amigas por milhares de anos. Mulheres têm sido melhores amigas, parentes, companheiras estáveis, suportes econômicos e emocionais, amantes fiéis. Mas tal tradição de amizade feminina, assim como tudo o que envolve nossa existência, tem sido distorcida, desmantelada,
destruída — em suma, para usar um termo de Mary Daly, desmembrada. O desmembramento da amizade feminina é, inicialmente, o desmembramento do Eu feminino autocentrado. Esta carência de amor-próprio tem sido enxertada no Eu das mulheres sob o patriarcado. Se o enxerto prospera, as mulheres que não amam seus Eus não podem amar a outras como Ela.
O nosso ódio às outras mulheres, portanto, tem origem no nosso auto-ódio. Nos odiamos e por isso odiamos às outras. Não nos perdoamos, portanto, perdoar outras mulheres se torna impossível. Não nos aguentamos, nem aos nossos corpos, por isso o corpo de outras mulheres se torna inaceitável. Não confiamos na nossa percepção de mundo e nos nossos saberes, portanto, os saberes de mulheres têm sido descredibilizados e perseguidos também por nós mesmas, ao longo dos anos. Não entendemos nossa própria opressão, por isso, é impossível que compreendamos as várias camadas de opressões de mulheres em outras culturas e de outros povos. O ódio que cresce entre mulheres é o aprendizado do patriarcado: é cruel, autodestrutivo, aniquilador e um grande retrocesso. Mas, a nosso favor, ele é reversível, ao passo que comecemos a nos olhar a todas e a nós mesmas com mais cuidado e autopreservação. O amor por outras mulheres é, antes de tudo, o amor próprio.
Sabíamos, por experiência própria, que, como mulheres, fomos socializadas pelo pensamento patriarcal para enxergar a nós mesmas como pessoas inferiores aos homens, para nos ver, sempre e somente, competindo umas com as outras pela aprovação patriarcal, para olhar umas às outras com inveja, medo e ódio. O pensamento sexista nos fez julgar sem compaixão e punir duramente umas às outras. O pensamento feminista nos ajudou a desaprender o auto-ódio feminino. Ele nos permitiu que nos libertássemos do controle do pensamento patriarcal sobre nossa consciência. (bell hooks, 2018: 34–35)
Por isso, quando conta sua experiência com Margarita Pisano, Edda Gaviola faz questão de mencionar a amizade política que construíram. A carta dela à sua amiga é, na verdade, um manual de como é possível se destituir dos ódios internalizados, a fim de construir confiança e companheirismo honestos entre mulheres, trabalho de uma vida toda. Ela diz que para que isso aconteça, é central que se desaproprie a animosidade da outra mulher, ou seja, que deixemos de enxergar outras mulheres com aversão, inveja, rancor e hostilidade. É ter sempre em mente que será preciso trabalhar essas características, inerentes à feminilidade construída pelos homens. É também importante que estejamos atentas para que elas não reapareçam como parte do mandamento histórico da inimizade entre as mulheres e da misoginia, que carregamos como herança patriarcal.
Como parte da misoginia internalizada, as mulheres medimos umas às outras com o padrão que o patriarcado nos impõe. Nesse contexto, as mulheres tendem a rejeitar, desvalorizar, negar ou odiar quem fala em voz alta, quem tem suas próprias ideias, quem discute com paixão e sem concessões, quem questiona e vive sua vida com independência e autonomia, atrevendo-se a ser, pensar e agir, fora dos códigos da feminilidade imposta
— ela diz. E também
As cumplicidades políticas são as mais difíceis de construir. Estou convencida de que, para fazer isso, é necessário ter projetos comuns, pensar juntas e se reconhecer profundamente na outra, nos seus saberes e autorias, a fim de alcançar a aprendizagem recíproca. Mas também partir de uma rede de ideias comuns, uma análise crítica e compartilhada da realidade e da experiência histórica das mulheres, capaz de fluir e transcender no ato que vai do pessoal ao político.
Reconhecer, portanto, uma genealogia das mulheres e de suas lutas, através do feminismo, é obrigação de quem se pretende feminista na luta pela libertação das correntes de gênero. Não adianta se dizer feminista e se limitar a ouvir as vozes patriarcais e o que elas construíram sobre o Movimento de Libertação das Mulheres. É preciso ouvir mulheres, estar com elas e estudar quem esteve entre nós; não com o objetivo de promover aceitação masculina, mas com o objetivo de desenvolver memória, práxis e material feminista para estudo e organização. Eu poderia simplesmente dizer que o Feminismo falhou e falha todos os dias, mas preciso acreditar na construção de Ética e Epistemologia voltadas para mulheres.
Eu defendo o Feminismo de Dworkin porque acredito na sociedade idealizada por ela; defendo porque o Continuum lésbico de Adrienne Rich transformou radicalmente a minha existência; defendo isso porque acredito na Utopia como cenário de inspiração para este Outro mundo possível; defendo porque bell hooks teve a coragem de exigir que nós abandonássemos o auto-ódio como a única possibilidade de emancipação feminina; defendo porque Margarita Pisano exige de nós criatividade para uma transformação civilizatória radical, vinda de mulheres, negando tudo que os homens fincaram como sabedoria e poder.
Portanto, volto a dizer que a afirmação da não existência da sororidade é nada mais do que chover no molhado. Sabemos que ela não existe, mas que está no horizonte, e por isso defendemos o Movimento de Libertação de Mulheres como único caminho para emancipação política e para o despertar crítico feminista, a fim de alcançarmos a verdadeira autonomia, por meio de uma Coletividade que considera a história das mulheres. Por meio de uma coletividade ética e compromissada única e exclusivamente com a vida de mulheres.