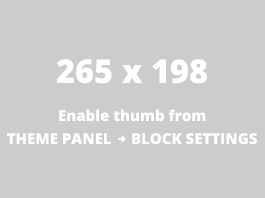Observando o nascer e esmorecer de diferentes coletivas, radicais ou não, em diferentes cidades e por diferentes motivos, tenho frequentemente a sensação de que fundamos nossas coletivas no escuro e abandonamos o trabalho político numa escuridão ainda pior.
É claro que as dificuldades em iniciar e, principalmente, manter uma atividade e grupo político consequente, que não perca de vista seu horizonte de libertação, são imensas. Às vezes, essas dificuldades são a confluência de muitos fatores: falta de experiência política, falta de exemplos, falta de recursos, falta de fundos, falta de mãos. Quase nunca pela falta de ideias, mas até mesmo essas podem ser um problema: ideias de mais, programa de menos.
Isso é significativo. Que um grupo organizado de mulheres militantes tenha em mente quais são os problemas que precisa resolver, tenha muitas ideias para endereçá-los, mas não seja bem-sucedido em não meramente concretizar essas ideias, colocá-las em práticas, mas antes mesmo disso: alinhá-las com a necessidade e dureza da realidade imediata da vida das mulheres, encaixá-las no panorama da conjuntura política e priorizá-las dentro de um programa pela própria libertação… Isso é menos simples. Menos simples de aprender e menos simples de resolver.
Infelizmente, não há receitas mágicas. Seria tarefa impossível tentar responder, neste texto, todos os problemas que levantei no parágrafo anterior. Mas há pelo menos um que sinto urgência em propor à reflexão: a falta de exemplos.
No lugar errado, do jeito errado?
Não sei se há uma maneira “certa” de fazer militância. Mesmo partilhando a condição de mulheres, nossas experiências são diferenciadas por uma série de fatores que nos atravessam: classe, raça, sexualidade, campo e cidade, centro e periferia, maternidade, deficiência, etc, etc, etc. A urgência de uma mulher no meio urbano pode não ser a urgência de uma mulher no campo, por exemplo, e isso certamente é uma linha de corte na sua forma de pensar e agir organizadamente, enquanto militante ou possível militante a se organizar.
Como as mulheres são atravessadas por diferentes condicionantes, afetadas em diferentes esferas, organizar mulheres obviamente exigirá presença em esferas diferentes. Frentes e espaços diferentes, atuantes, talvez, sobre diferentes temáticas. É muito possível que muitas mulheres, antes de se organizarem em prol de sua própria emancipação política, comecem por se organizar por alguma causa diferente que a desperta mais imediatamente.
Isso pode ser explicado de diferentes pontos de vista: socialização para o cuidado e a maternagem de todos os outros pode ser um deles, naturalizar sua opressão ao ponto de não se ver como oprimida ou como sujeito político pode ser outro. O que importa é reconhecer exatamente isso: às vezes, para mobilizarmos mulheres em prol de sua própria causa, teremos de estar em espaços… de causas que aparentemente não são “nossas” (pois, em última instância, todas as questões são nossas questões). Ou até espaços de causa nenhuma. Porque mulheres estão lá.
Por outro lado, espaços que, à primeira vista, podem parecer “óbvios” e “naturalmente progressistas”, como a Academia, podem se mostrar um belo terreno improdutivo para um trabalho militante sério e consequente.
Nos últimos anos, vi surgir muitas coletivas feministas dentro desse contexto da Academia — e aqui não me refiro especificamente às coletivas radicais, mas que simplesmente se designavam como “feministas”. A Academia era onde nasciam e também morriam, como um cão atrás do próprio rabo. Sua ação não podia ser outra coisa que não limitada e condicionada nesse espaço, bem como seu teorizar tinha fronteiras bem delimitadas, pois estavam visivelmente encerradas numa estrutura com limites estabelecidos pela estrutura de dominação vigente e destacadas da vida cotidiana das mulheres fora dali.
Mesmo as coletivas que nasciam fora da Academia pareciam ter algum imã invisível que as sugava para dentro daquele vórtice. Suas atividades se limitavam à participar de debates, seminários, organizar eventos culturais nos limites da universidade: a opressão é debatida, mas pode esperar para ser resolvida até o congresso do próximo ano, quando nos reuniremos para falar de novo e de novo sobre artigos com nomes impressionantes pendurados com pregadores em varais ou impressos em A4 colorido.
É claro que isso não se aplica à totalidade das coletivas e, para ser justa, teria de fazer menção e ressalva àquelas que se mantiveram firmes na militância cotidiana nas ruas, junto de organizações de mulheres trabalhadoras, trabalhando com outros movimentos de mulheres dentro das causas que entendemos como basilares para nossa emancipação política. Tenha sempre em mente que essas coletivas existem e, felizmente, resistem e persistem na organização radical. Para nosso azar, são poucas.
Dentro do movimento radical em específico (e nisso posso estar errada e espero que a companheira que me lê se dê o benefício da dúvida), tenho a impressão que muito disso acontece pela já referida falta de conhecimento de referências, de buscarmos exemplos no contexto estadunidense dos anos 70 — que, sinceramente, acabou de forma desastrosa.
Por mais intenso e inspirador que seu começo tenha sido, o fato é que o movimento radical estadunidense não venceu: esmoreceu. Esvaiu-se para as universidades e apagou como fogo em palha.
Talvez nosso erro, aqui, seja a transposição de realidades absolutamente intransponíveis e com momentos históricos e conjunturas políticas distantes e distintas. Talvez esse tipo de ação fizesse sentido naquela época, mas fará sentido no contexto brasileiro de 2020?
Colar lambes nas ruas, rabiscar muros, participar de debates nas universidades… podemos nos dar ao luxo de esgotar nossa energia política nisso, sem qualquer propósito traçado e planejado que possa avançar nosso programa e nossa luta?
Poderemos pensar noutra forma de atuação? Devemos e precisamos.
Desradicalização
Parece haver uma tendência à desradicalização gradual, enterrada enfim quando a coletiva encerra suas atividades.
Não tenho dúvidas que, muito mais que só as dificuldades cotidianas da vida (no Brasil, não ter o dinheiro da passagem é suficiente para afetar seriamente sua militância, bem como ter o dinheiro e ter de perder 3h no trânsito também!), isso é reflexo também da ausência de estrutura, construção e de um programa.
Estrutura no sentido de construir memória que independentize a existência da coletiva da permanência de suas integrantes. Ou seja: a existência de um manifesto, carta de princípios, de um estatuto, a manutenção de eleições regulares e de atividades regulares com pessoas responsáveis por isso.
Isso fornece não só um esqueleto para que a coletiva se coloque e permaneça de pé, mas mais que isso: fornece os pilares para que ela continue operante e firme mesmo que algumas das suas integrantes fundadoras deixem o grupo. Se a memória, as decisões e o trabalho da coletiva está “guardado” na “cabeça” de uma mulher fundadora, a saída dessa integrante obviamente é o fim da coletiva. Sempre que novas integrantes se juntarem, será preciso recomeçar tudo do zero. Sempre.
Quando falo em “construção”, falo não só do trabalho necessário (e, a meu ver, que deve ser compulsório) de formação e conscientização de mulheres em geral — que, geralmente, resulta na formação de novas-futuras integrantes para o grupo -, mas também de ter um plano de expansão da coletiva. Permitir que ela se multiplique para além dos limites regionais a que está circunscrita devido à vida cotidiana de suas militantes. Uma integrante se mudou para outra região? Excelente, comecemos ali o trabalho de criação de um novo núcleo da coletiva.
Multipliquemos a nossa presença para multiplicar também a nossa força e capacidade de mobilização e transformação.
Já o programa é certamente a parte mais difícil: sabemos o que deve ser feito, não necessariamente sabemos como deve ser feito. As coletivas tendem a começar com atividades aleatórias que respondem diretamente à capacidade de suas militantes individuais (se uma sabe fazer X, fazemos atividade X; se outra sabe Y, fazemos Y). Progressivamente ou cumulativamente, tendem a se tornar mais ativas, mas não pró-ativas: reativas. Isto é, as atividades da coletiva respondem a uma ação que já aconteceu invés de trabalhar para que essas ações deixem de acontecer: uma manifestação quando acontece um brutal feminicídio, uma manifestação no dia de combate à violência, um evento no dia de luta pelo aborto, etc etc etc.
Isso é um dos nossos pontos fracos mais dilacerantes, sem dúvidas. Se sabemos o que precisa ser feito (precisamos assegurar o aborto livre e autodeterminado, certo?; precisamos tirar mulheres da prostituição, certo?; precisamos quebrar a indústria do sexo, certo?; precisamos autonomizar mulheres do trabalho doméstico e trabalhar para a concretização da socialização dos cuidados, certo?), então nosso programa e nossa atividade política deve responder a isso. Responder à necessidade de dar sempre um passo adiante para a realização desse objetivo, dessa mudança. Não responder à necessidade de simplesmente dar vazão a uma sensação de opressão que nos faz sentir aliviadas e cuidadas quando gritamos na rua, quando falamos entre mulheres sobre isso ou quando escrevemos numa cartolina “Parem de nos matar”. Isso não vai acontecer, lamento informar.
Talvez uma coletiva iniciante ou, digamos, com até dois anos de estrada não sinta que tenha necessidade de colocar em prática esses pontos que citei acima. Afinal, tendem a ser grupos pequenos que ou começam por afinidade, entre amigas, ou se tornam círculos de afinidade com o tempo.
Contudo, convido as companheiras a repensar essa concepção: exatamente porque o grupo é pequeno é que a estrutura é necessária.
A saída de uma só integrante de um grupo reduzido é uma perda significativa que pode imobilizar ou incapacitar a atividade política do grupo. Ter uma estrutura e um programa permitirá assegurar a continuidade do trabalho, além de oferecer um solo mais sólido e fértil para as novas integrantes que virão.
Só com estrutura é possível a construção. E só com construção é possível executar um programa pela emancipação e libertação das mulheres.

O Exemplo das Mulheres Curdas e Afegãs
Para entender a importância de pensar a organização e a práxis como interdependentes da conjuntura política e do contexto geopolítico, voltemos nossos olhos para mulheres revolucionárias em dois contextos completamente distintos e como elas se organizam de acordo com a conjuntura.
As curdas são uma inspiração particular. Tendo a considerá-las a materialização viva da práxis feminista radical. Há uma luta revolucionária em curso no Curdistão e as mulheres são, sem dúvidas, a vanguarda desta luta. Uma luta que colocou o dedo tão profundamente na ferida da dominação masculina capitalista que tem gerado contínuas tentativas de golpe e massacre de vários lados: do umbigo da besta, os EUA, aos facínoras vizinhos, como a Turquia.
Em 2019, tive a oportunidade de estar com uma guerrilheira curda num “acampamento” organizado pelas mulheres da Plataforma de Apoio aos Povos do Curdistão, em Portugal. É parte da sua agenda e da sua práxis enviar militantes para outros países para falar e ensinar sobre a revolução em curso, seu método e o que aprenderam e estão aprendendo no caminho. Isso não só numa perspectiva de conquistar solidariedade internacional, mas também de construir pontes e “dar o exemplo”.
Nesse acampamento, Zylah nos disse que havia alguns pilares básicos da revolução das mulheres no Curdistão: autodefesa, soberania alimentar e educação. Assentes nisso, elas se organizam tendo em conta o contexto geopolítico e o horizonte revolucionário. Cito:
“As mulheres estão no centro de todos os desenvolvimentos. Elas estão participando e são representadas de maneira igual em todos os processos de tomada de decisão. Mas isso não é feito apenas por esforços individuais. Trata-se realmente de representar a vontade coletiva organizada do movimento de mulheres. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Você não é forte como um só indivíduo. Mesmo se, como pessoa, tiver poderes, isso acontece porque faço parte de uma força autônoma organizada. (…)
Essas mulheres, que participam de estruturas mistas de governança, autodefesa, educação e todas as outras partes da vida, são ao mesmo tempo membros naturais do movimento de mulheres e também foram escolhidas pelo movimento de mulheres. Isso significa que o movimento de mulheres está decidindo sobre todas as mulheres candidatas às eleições ou que participam de estruturas mistas.
Assim, por um lado, as mulheres estão se organizando autonomamente e, por outro, estão participando igualmente de todos os desenvolvimentos e estruturas gerais. Isso requer um nível muito profundo de consciência das mulheres, de consciência de gênero. E isso não foi realizado num dia. Este foi um processo muito longo, que ainda está em andamento.”
– A revolução das mulheres no século XXI: da solidariedade à luta comum
Esse é um ponto importante, pois reconhece que a organização autônoma de mulheres é necessária, mas não dispensa a participação igual em todas as estruturas mistas existentes, em todas as áreas, num processo dialético que é, simultaneamente, de construção e de disputa. E, sobretudo, porque reconhece que, embora a autonomização ainda seja necessária pela própria existência da dominação masculina, a atomização nos enfraquece no processo revolucionário.
Reconhecer a necessidade de coletivização (organização), autonomia e, ao mesmo tempo, participação integral é o primeiro passo.
E depois? E a tal conjuntura?
Bem, os curdos são o maior povo apátrida do mundo. São mais de 30 milhões de pessoas que há séculos lutam ainda pelo mais básico: o reconhecimento étnico e geográfico. 30 milhões, um povo “desalojado”.
O Curdistão é um território entre territórios, isto é, abarca fronteiras da Síria, Turquia, Iraque e Irã. Imagine o que isso significa em termos de disputa política de território, em especial no Oriente Médio. Portanto, é literalmente um espaço devastado por guerras, guerras essas provocadas não só pelos 4 países ao redor, na disputa de controle pelo terreno, mas também pelos países de fora — Estados Unidos e Rússia, em especial.
É nesse contexto de bombardeamento constante, de reforço de fronteiras, mísseis, de negação de identidade e acesso à terra — com tudo que isso implica não só para a constituição física e psicológica e relacional das pessoas em si, com as intrincadas disputas de poder políticas, militares e religiosas, mas também da sobrevivência em termos de ecologia, por exemplo — que as mulheres curdas precisaram organizar a sua luta por libertação.
Portanto, a sua luta não tem de pensar “apenas” na relação de opressão imediata e cotidiana com os homens de seu próprio povo ou estrangeiros, nem mesmo “apenas” com os representantes dos diversos Estados à volta. Sua luta tem de pensar a sobrevivência para além disso: a ecologia (a soberania alimentar, a capacidade de se alimentar e de produzir alimentos sem depender do fornecimento dos Estados que as tentam assassinar cotidianamente, num território de solo seco e castigado por bombas e mísseis); a autodefesa, mais uma vez, não só dos homens que lidam no seu cotidiano (seus companheiros, camaradas e desconhecidos “comuns”), mas também autodefesa a nível coletivo, para defenderem suas vidas dos ataques dos Estados fascistas e de grupos terroristas, como o Daesh; e, claro, não menos importante, a batalha ideológica pela descolonização do pensamento, da cultura e, em especial, da desenraização da supremacia masculina.
É uma tarefa hercúlea, mas está em curso. E, tendo isso em conta, as necessidades, as possibilidades e a realidade, as mulheres curdas organizaram as seguintes estruturas:
- YPJ: o exército ou guerrilhas armadas só de mulheres responde à necessidade de treinamento e autodefesa das mulheres, mas também de romper com a mentalidade patriarcal que coloca a mulher como subordinada e o homem como dominante e com a divisão sexual do trabalho, que mantém mulheres na esfera do trabalho reprodutivo e perpetua o masculinismo reservando as decisões políticas e decisões em atos de guerra aos homens. O YPJ surgiu como o exército feminino do PKK, o Partido dos Povos do Curdistão. Ou seja, há uma relação tanto com os movimentos, como com os partidos.
- KJA: o movimento de Mulheres Livres do Curdistão, com células locais e uma organização nacional, funciona sob o modelo confederacionista e elege mulheres que representarão o interesse do movimento, por exemplo, dentro de partidos, associações e outras organizações;
- Jinwar: uma vila ecológica só de mulheres, acolhe mulheres que ficaram viúvas e sem renda para sobreviver; mulheres que foram raptadas e feitas de escravas sexuais por grupos terroristas e conseguiram fugir; mulheres que fugiram de casa para escapar à violência doméstica e do estupro; ou mulheres que simplesmente desejavam viver de forma independente dos homens e construir esse ideal. Jinwar possui escolas autogestionadas pelo movimento, uma Academia da Mulher, onde resgatam saberes culturais e ancestrais, como o cultivo e uso de ervas medicinais, e aprendem história, política, geografia, letras, etc.
Como dito anteriormente, as mulheres curdas também entendem a importância da propaganda, da divulgação e da persistência no internacionalismo. Por isso, publicam suas pesquisas, produzem conteúdo textual e audiovisual para divulgar sua revolução e seus métodos, organizam conferências internacionais para alavancar consciências de mais mulheres ao redor do mundo e viajam para espalhar as novas sobre Rojava e o Curdistão.
Passemos agora para as mulheres afegãs, que estão num contexto e conjuntura bastante diferente das mulheres curdas.

Na entrevista concedida ao Movimento de Mulheres Curdas, Samia Walid, ativista da RAWA (Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão), explica o contexto em que se insere o movimento:
“Os líderes jihadistas, senhores da guerra com passados sangrentos de crimes horríveis, estão no controle do atual governo e parlamento e têm seus reinos separados em diferentes partes do Afeganistão. Abdullah Abdullah, CEO do Afeganistão, é um desses líderes jihadistas que pertence à quadrilha criminosa de Shorae Nizar. Isso cria uma situação perigosa para nós, pois esses bandidos são nossos maiores inimigos e não hesitam em dificultar nosso trabalho e nos prejudicar. Em outras partes do Afeganistão, onde os fundamentalistas do Talibã estão no controle, a RAWA enfrenta a mesma opressão.
(…) O patriarcado é constantemente apoiado e nutrido por governos reacionários feudais, capitalistas e imperialistas em todo o mundo, principalmente para apagar o papel das mulheres na sociedade, especialmente na política.
(…) Considerando que esses governos são antipopulares por natureza e só podem perdurar oprimindo as massas e suas lutas, a supressão das mulheres é seu principal objetivo. Ao fortalecer a misoginia e a cultura feudal, eles privam as mulheres de todos os seus direitos e, assim, prejudicam metade da sociedade e podem se assegurar de que não há luta e resistência. Esses governos nunca tomam medidas pela emancipação das mulheres, mas reforçam a jaula em torno das mulheres.
Hoje a situação das mulheres afegãs é mais desastrosa do que nunca. Os EUA invadiram o Afeganistão sob o pretexto dos “direitos das mulheres”, mas a única coisa que trouxe às nossas mulheres nos últimos dezoito anos foi violência, assassinato, violência sexual, suicídio e autoimolação e outros infortúnios.
Os EUA levaram ao poder os inimigos mais cruéis das mulheres afegãs, os fundamentalistas islâmicos, e cometeram uma traição imperdoável contra nossas mulheres que sofrem. Essa tem sido sua tática nas últimas quatro décadas. Ao nutrir os Jihadi, Taliban e ISIS, todos elementos fundamentalistas islâmicos e não apenas criminosos assassinos, mas também misóginos, os EUA praticamente oprimiram nossas mulheres.”
– Mulheres Afegãs e a Luta contra o Patriarcado, o Imperialismo e o Capitalismo)
Levando em conta esse contexto, a RAWA precisou se organizar de acordo com a conjuntura e as necessidades das mulheres. Isso implicou, inclusive, a utilização de pseudônimos e o trabalho político no anonimato, dado que os riscos de vida são evidentes.
Eis como a RAWA trabalha e as estruturas que desenvolveu:
- Divulgação e denúncia: “Nossas atividades políticas incluem a publicação de nossas revistas e artigos e a mobilização de mulheres para obter essa consciência e se juntar à nossa luta. Coletamos e documentamos os assassinatos, estupros, saques, extorsões e outros crimes desses senhores da guerra em partes remotas do Afeganistão.
- Intervenção social: “Nossas atividades sociais estão fornecendo educação às mulheres (não apenas aulas de alfabetização, mas consciência social e política sobre seus direitos e como alcançá-los), ajuda de emergência, criação de orfanatos e atividades relacionadas à saúde.”
- Trabalho junto da população: “A RAWA acredita que só pode se transformar num movimento poderoso com o apoio das massas, e esse apoio vem ao ficar e trabalhar no Afeganistão, mesmo que a situação seja infernal. As pessoas confiam apenas em organizações revolucionárias que as apoiam na prática e são ativas dentro do país.”
- Participação ampla: “A liberdade das mulheres para nós é a nossa participação em todas as esferas da sociedade, baseadas na independência, democracia, secularismo e justiça social. É a nossa completa igualdade com os homens em todos os aspectos. Essa liberdade e igualdade está ligada diretamente à política e à sociedade.”
- Pontes com outras estruturas: “A RAWA acredita na solidariedade internacional com partidos que buscam a independência, lutam pela liberdade, organizações democráticas e progressistas como parte vital de nossa luta interna. (…) Nesse ponto, precisamos compartilhar nossas experiências e lições para que possamos passar por essa árdua luta.”

O contexto específico brasileiro
Embora não haja dúvidas de que estamos em conjunturas muito distintas relativamente às mulheres curdas e afegãs (não há bombardeios amplos no Brasil como há no Curdistão ou Afeganistão), não tenham também dúvidas de que nossas premissas não são assim tão distintas. Vou me explicar.
É impossível analisar a opressão das mulheres, nossas necessidades materiais e, a partir disso, pensar a melhor forma de nos organizarmos como um movimento revolucionário de massas, sem pensar a colonização no contexto brasileiro. Esse é o nosso passado e os ecos do nosso presente: a colonização europeia.
Além da colonização, seria preciso alguma ingenuidade e malabarismo para negar que o Brasil é um país ocupado por potências estrangeiras. Os Estados Unidos continuam a ter uma influência evidente na nossa política, intervindo diretamente na soberania nacional, e o capital estrangeiro é cada vez maior na indústria brasileira. O que isso implica para as mulheres, obviamente, é o lugar que ocupamos socialmente: seja em termos de precariedade econômica, nos nossos empregos e trabalhos na base da pirâmide, como também no retrocesso dos direitos políticos.
O avanço do militarismo, inquestionavelmente com uma forte influência estadunidense (que se tornou mais evidente que nunca sob o governo Bolsonaro), afeta a realidade imediata das mulheres, na política de assassinato de nossos filhos e companheiros, que deixa mulheres para sobreviver em desvantagem absoluta no Brasil (política desproporcionalmente impingida às mulheres negras e indígenas, que juntas somam a maioria da população no país). Mas também afeta a mudança política necessária a longo prazo: o avanço do militarismo e do fundamentalismo necessita de reforçar a divisão sexual do trabalho, mantendo mulheres no lugar de parideiras e serviçais dos homens e do Estado, atacando direitos e soberania das mulheres, esmagando organizações de mulheres e fortalecendo propagandas antifeministas abertamente (como quando reforça políticas da família patriarcal, demoniza o aborto e reprime a educação sexual e planejamento familiar).
Outra consequência do cenário acima (colonialismo, imperialismo, capitalismo e militarismo, que andam todos juntos, é claro) é o ataque à soberania alimentar e o acesso à terra. Escusado será dizer que essas políticas afetam mulheres de forma esmagadora, afinal, mulheres só tiveram direito formal de acesso à terra em 1988, após a queda da ditadura militar e com a instauração da nova Constituição. O que isso significa é que mulheres têm menos acesso à comida, à sobrevivência, à manutenção de suas famílias e dependem mais de homens, pois são principalmente vistas como “ajudantes”, não como “produtoras”, e dependem de uma relação com outro homem para ter acesso à moradia e terra para cultivo.
Atualmente, mais de 84,72% da população do Brasil vive no contexto urbano, não porque o país tenha ótimas condições urbanas e industriais, mas sim por causa do escaldo do êxodo rural intenso vivido na década de 70 e 80 (anos maduros da ditadura militar). Êxodo causado pela crescente mecanização do trabalho, expulsando a população campesina para as periferias, ruas e favelas dos grandes aglomerados urbanos, e sem, é claro, fazer uma reforma agrária — ou seja, mantendo o monopólio das terras e produção agrícola na mão dos mesmos velhos brancos ricos desde a época das capitanias hereditárias (colonização!). Segundo o Censo Agropecuário de 2018, no Brasil, no Brasil, 2 mil latifúndios ocupam área maior que 4 milhões de propriedades rurais. E, claro, essa produção está maioritariamente indo para fora, não para a mesa das famílias brasileiras.
Organizar um movimento radical brasileiro exige considerar o contexto e os efeitos da colonização na vida das mulheres e na organização social do nosso país. É imprescindível entender como o acesso à terra, aos alimentos e como a própria necessidade de sobrevivência frente à violência policial (no perímetro urbano) e do agronegócio (no perímetro rural) é uma necessidade urgente para a vida da maioria das mulheres trabalhadoras e pobres no país. Isso, por si só, pode nos orientar sobre algumas urgências práticas de atuação do movimento: políticas de agroecologia e de autodefesa.
Com isso, torna-se óbvio que centrar o racismo na vida das mulheres é uma necessidade para organizar um movimento no Brasil. Não digo isso da boca pra fora, acredito realmente que pautar a desigualdade racial é essencial para organizar mulheres para a luta política no Brasil, porque atravessa todas essas situações que são emergenciais em suas vidas. Por exemplo, é impossível debater trabalho doméstico e trabalho reprodutivo no Brasil, questões centrais para o feminismo, sem debater racismo e colonialismo. Atualmente, são mais de 4 milhões de mulheres negras que dependem do trabalho doméstico pago no Brasil para sobreviver. Presas no ciclo de subserviência, dentro e fora de casa.

Outras questões fundamentais para o feminismo e para a realidade brasileira é entender o papel da prostituição e da pornografia na nossa cultura, na organização do trabalho e na alienação de mulheres. A prostituição é consequência do colonialismo e das políticas imperialistas de intervenção na nossa política e economia: com cada usina ou nova fábrica criada em qualquer rincão do país, surge imediatamente a prostituição de meninas e mulheres negras e indígenas; nas cidades, isso não é menos transparente, especialmente em tempos de crise econômica.
O principal capital da indústria pornográfica está concentrado na América do Norte e na Europa, embora as mulheres brasileiras sejam esmagadas de maneira absurda nessa produção e capitalização de corpos. Sentimos isso tanto na representação midiática e cultural no nosso dia a dia, através da hiperssexualização de nossos corpos, que começa cada vez mais cedo, mas também quando saímos do Brasil e descobrimos que não somos vistas como mais do que meras prostitutas ou atrizes pornôs sedentas por servir sexualmente o primeiro homem que nos aparecer à frente.
Isso aponta a necessidade de ter uma ação orientada para conscientizar sobre a cultura do estupro, a objetificação feminina e como ela serve para afastar-nos da política e destruir nossa soberania para encher os bolsos de homens gringos (e isso precede o trabalho em prol de políticas antiprostituição), mas, sobretudo, de por em nossa agenda ações que promovam autonomia reprodutiva e sexual para mulheres, com planejamento familiar, acesso à educação sexual, acesso à prevenção, ao aborto, etc. Isso é urgente.
Nós temos nosso próprio trabalho hercúleo pela frente. Não é fácil conscientizar e organizar mulheres na luta pela libertação tendo de pautar o colonialismo, imperialismo e dominação masculina, tudo fortemente alicerçado na exploração e dominação de nossos corpos. E, por isso, nada disso poderá ser feito sem um movimento massivo, enraizado nas bases populares invés da Academia, com propaganda consequente e paulatina para a conscientização e captação para a luta, com ações diretas que trabalhem para a sobrevivência e emancipação das mulheres.
Isso só pode ser feito com um movimento amplo, nacional, estruturado e centralizado, que opere junto de e junto com outras estruturas já existentes, de modo que possamos chegar onde nossas mãos não nos permitem. Onde nossos recursos financeiros não nos permitem.
Não é mais possível estarmos isoladas.
E precisamos fazer isso agora porque nós estamos perdendo.