Tradução livre do capítulo Labelling women as mad — regulating and oppressing women, do livro The Madness of Women, de Jane M. Ussher.
Os itens e subitens dentro desse capítulo não estão numerados no original. Eu os numerei para facilitar a leitura. As imagens também não estão no original; coloquei para ilustração. Abaixo, o conteúdo do capítulo.
Sumário: [introdução] • 1 Controlando mulheres difíceis ou desviantes: tratamento ou tortura? • 1.1 Esposas e filhas desobedientes: regulando a mulher louca Vitoriana • 1.2 Hospitalização e terapia eletroconvulsiva: construindo uma “mulher boa” • 2 Diagnósticos com viés de gênero • 3 Transtornos de personalidade borderline e histérico: patologizando a feminilidade exagerada • 4 Regulando as mulheres por meio de “tratamentos” bio-psiquiátricos • 4.1 Opressão por meio do encarceramento e do tratamento com choques elétricos • 4.2 Medicando a loucura das mulheres • 4.3 Medicalizando a menopausa: a promoção de terapias de reposição hormonal • 5 Terapia como tirania • 6 Autogestão da loucura: a promoção do autopoliciamento • 7 • Um processo de subjetificação: mulheres adotando o manto da loucura • 8 Reconhecendo a construção e a experiência vivida das angústias das mulheres • 9 Uma análise material-discursiva-intrapsíquica da loucura feminina
[introdução]
Alexandra Kaplan escreve:
A depressão talvez não seja uma “doença” sobreposta ou uma estrutura de personalidade indiferente ou estranha, mas talvez seja uma distorção — um exagero do estado normativo de se ser mulher na sociedade Ocidental. [1, p. 234]
Uma assistente de biblioteca de 47 anos, entrevistada por Elizabeth Ettore e Elianne Riska, reportou:
Primeiro eu tive essa grande depressão. Eu tomei medicamentos para depressão por vários anos. […] Essas pílulas tiram sua memória […] É mais aceitável para mulheres estar doente porque é esperado que mulheres, ao menos numa sociedade masculina, sejam fracas. É mais compreensível — não é permitido a um homem ser fraco. [2, p. 105]
Robert Menzies e Dorothy Chunn escrevem:
Mulheres loucas “ordinárias” talvez sejam (re)construídas como objetos de pena, ou desprezadas como monstruosidades patológicas ou não-entidades, ou incorporadas em narrativas dominantes de fragilidade feminina e inferioridade somática, mas aquelas raras mulheres que transgrediram limites criminais assim como mentais estavam em violação direta de padrões de identidade de gênero de mente e de ação. Dessa forma, aos olhos das autoridades, elas necessitavam de medidas extraordinárias de domesticação sistemática e conceitual. [3, p. 81]
Críticas feministas têm um longo histórico de repudiar diagnósticos de loucura feminina, e de condenar a psiquiatria como uma profissão que age para regular e oprimir mulheres. Como Phyllis Chesler comentou em 1972, em seu frequentemente citado livro Women and Madness: “A maioria das mulheres do século XX que são psiquiatricamente rotuladas, tratadas em sistemas privados e hospitalizadas em sistemas públicos não são loucas […] elas podem estar profundamente infelizes, autodestrutivas, economicamente sem poder, e sexualmente impotentes — mas, como mulheres, é o esperado” [4, p. 25]. Ou, como Naomi Weissten memoravelmente argumentou em 1973, “uma vez que se demonstrou que a experiência e as ferramentas clínicas podem ser piores do que inúteis quando testadas para consistência, eficácia, conformidade e confiabilidade, podemos concluir com segurança que as teorias de natureza clínica promovidas sobre mulheres também são piores do que inúteis” [5, p. 402]. No meu próprio livro Women’s madness: misogyny or mental illness? [6 — “A loucura das mulheres: misoginia ou enfermidade psíquica?, sem tradução], no qual eu revisei essas críticas, eu argumentei que “a loucura age como um significante que posiciona mulheres como doentes, como forasteiras, como patológicas, como de alguma forma um segundo grau — o segundo sexo” [6, p. 11]. Eu ainda concordo, vinte anos depois de escrever tais palavras.
Feministas de primeira onda vivendo no fim do século XIX ou no começo do século XX argumentaram de forma semelhante, muitas se pautando em suas próprias experiências de diagnóstico e tratamento psiquiátrico [ver 7]. Depois de serem liberadas de sanatórios, muitas mulheres dedicaram suas vidas a informar o público dos absurdos perpetrados sob o disfarce de “tratamento”, tornando-se defensoras de todas as mulheres tidas por “loucas”. Algumas, como Louisa Lowe, que publicou The lunacy laws at work [“As leis da loucura em ação”, sem tradução] em 1883, conduziram um ataque continuado à estrutura completa da psiquiatria Vitoriana [8, p. 126], em particular os sanatórios particulares lucrativos que faziam parte do “comércio da loucura” [9, p. 95]. Avance mais de um século, e muitas pessoas diriam que as coisas não mudaram muito. Quem lucra com o diagnóstico de mulheres enquanto loucas talvez agora sejam indústrias farmacêuticas e as profissões psi, em vez dos leigos mantenedores de sanatórios que mantiveram as rédeas do poder até que os médicos tomassem controle. Entretanto, o processo é o mesmo: mulheres estão sob risco de serem consideradas loucas por simplesmente serem “mulher” — por demonstrarem traços arquetípicos femininos, ou, paradoxalmente, por rejeitarem seu papel feminino. É um enigma que coloca todas as mulheres em risco, mesmo que o risco hoje seja uma prescrição de um medicamento psicotrópico, em vez da internação em um sanatório.
Nesse capítulo eu exploro as críticas feministas social-construcionistas da loucura das mulheres. Eu examino os diagnósticos com viés de gênero e a patologização da feminilidade, usando os transtornos de personalidade borderline e histérica como exemplos de caso; exploro a tirania do tratamento, seja a hospitalização, tratamento de choque, medicação ou psicoterapia; e examino práticas de auto-policiamento, nas quais mulheres pegam o manto da loucura e se autodiagnosticam por meio de um processo de subjetificação. Ao mesmo tempo em que eu aplaudo os insights dessa abordagem, que foi descrita por Ros Gill como uma “sensibilidade pós-feminista […] informada por perspectivas pós-modernistas e construcionistas” [10, p. 64] eu também exploro algumas de suas potenciais limitações; particularmente, a negação da experiência vivida das mulheres e a negociação da angústia. Eu finalizo o capítulo revisitando o modelo material-discursivo-intrapsíquico realista crítico, desenhado no capítulo 1, para reconhecer a realidade das angústias das mulheres, ao mesmo tempo em que rejeito o posicionamento medicalizante — que enxerga essa angústia como sinal de patologia interior.
1 Controlando mulheres difíceis ou desviantes: tratamento ou tortura?
Eu começo com o passado, o lugar em que nosso atual discurso bio-psiquiátrico se origina. Na Idade Média, mulheres que exibiam “sintomas histéricos” tais como entrar em transe, estranhas dores corporais ou paralisias, ou estranhos paroxismos, eram julgadas como estando possuídas por espíritos malignos ou humores sombrios, e eram passíveis de serem queimadas como bruxas [11, p. 107; 12]. O Malleus maleficarum, a bíblia de caçadores de bruxa de 1494, fornecia a justificativa para a inquisição que viu dezenas de milhares de mulheres queimadas nas piras. Os “tratamentos” implementados pelos psiquiatras que assumiram a partir dos leigos donos de sanatórios no meio do século XIX podem parecer mais benignos, mas muitas mulheres eram hospitalizadas à força, tinham sua liberdade cerceada, e eram sujeitas a uma infinidade de “tratamentos”, por conta de serem consideradas loucas. Relatos em primeira mão daquelas encarceradas, invariavelmente contra suas vontades, falam de mulheres brutalmente removidas da vida normal, e sujeitas a inúmeras privações e intervenções que enlouqueceriam qualquer pessoa: ser alimentada com uma dieta de mero mingau, e forçada a comer sem apetite; ser mantida em isolamento por dias de cada vez e assediada por serventes, ou presas a algemas no chão, em camas-cela, ou em camisas de força; ser sujeita ao tratamento de compressa de gelo ou de hidroterapia, envolvendo a submersão em água fria como gelo, contida com faixas e camadas de panos molhados. [7] Eis aqui duas descrições de tais “tratamentos” — primeiro, Lydia A Smith escreve em 1878:
Da forma mais desumana eu fui submersa numa banheira, cuja água estava quase fervendo de quente, e segurada por um pulso firme em minha garganta, até que eu senti uma estranha sensação e tudo começou a ficar preto. […] Quando eu voltei à consciência, eu me encontrei sacudida de um lado ao outro, com minhas mãos confinadas às algemas, e um cinto de couro robusto preso a uma fivela de ferro estava ao redor do meu corpo […] nesse momento eu fui […] levada (ou melhor, arremessada) a uma pequena divisão do hall principal, e jogada em um “berço”. Essa é uma caixa quadrada, em que há uma tampa, feita para fechar e trancar, e tem grandes pilares, separados para deixar um pequeno espaço para ventilação. A alça adjunta às algemas foi presa ao “berço” de forma a apertar em volta da minha cintura e na boca do meu estômago com tal pressão que de fato parecia que eu não conseguia respirar. Meus pés foram presos ao pé do “berço” tão apertado, e ficaram lá por tanto tempo, que quando foram soltos eles estavam tão inchados que era impossível pra mim ficar de pé neles. […] Essa foi minha primeira experiência em um sanatório de insanos. [7, pp. 133–134]

Também Margaret Isabel Wilson, que foi hospitalizada de 1931 a 1937, escreve:
O tratamento com compressas de gelo era considerado uma das piores provações por algumas. Elas tinham pavor. Até uma ameaça os pacificaria e as deixaria quietas. Primeiro, era um cobertor de borracha, depois um lençol encharcado de água era colocado por cima. Os funcionários a deitavam, seguravam, e amarravam suas mãos e pés enquanto ela deitava de barriga para cima. Se ela estivesse muito problemática, a enfermeira chamaria algumas das pacientes mais antigas para segurá-la. Depois, mais um lençol molhado, então um cobertor de lã, dois se estivesse muito frio; então eles eram ajeitados de forma bem asseada, uma bolsa de água quente era colocada nos pés e uma bolsa de gelo era colocada na cabeça, se a paciente tivesse febre. [13, p. 279]

É difícil enxergar como esses “tratamentos” específicos poderiam ser benéficos a mulheres adoecidas; o objetivo parece eletrocutá-las à submissão. Mulheres também vivenciaram tratamentos medicamentosos, terapia eletro-convulsiva, colocação de emplastros ferventes na pele para gerar bolhas, operações múltiplas, ou amputações sem consentimento [14, p. 201]. Isso é tratamento, ou tortura? Se fosse executado em suspeitos de terrorismo hoje, não haveria dúvida, como evidenciado pela descrição de Lydia A. Smith em 1878 de tratamento medicamentoso forçado:
Eu lhe darei alguma ideia, minha paciente leitora, uma pálida ideia, de como as drogas são forçadas sob uma paciente. Um funcionário agarra o cabelo da paciente, lançando-a repentinamente de costas no chão; outro firma seus joelhos diretamente na boca do estômago da paciente, enquanto outro senta em seus joelhos, segurando-os para baixo; e o quarto força a boca a abrir com um calço; e, com a ajuda do funcionário que segura o cabelo da paciente, obtém sucesso em enfiar o conteúdo do copo goela abaixo da paciente ao tampar seu nariz e asfixiá-la, quase estrangulando-a. [7, p. 135]
Ainda que todos os “tratamentos” descritos acima também fosse oferecidos a homens (ou, ainda, homens também estavam sujeitos a eles), havia um leque de intervenções invasivas praticadas apenas a mulheres, com foco no corpo sexual ou reprodutivo. Isso incluía injeções de água gelada no reto; colocação de gelo na vagina; uso de sanguessugas nos lábios vaginas e no colo do útero; [8, p. 75] remoção dos ovários para acalmar hormônios enfurecedores; ganho de peso forçado para impedir que os ovários caiam e causem desconforto; aplicação de cargas elétricas ao útero; injeção de água quente na vagina; e cauterização clitoriana. [7, p. 101] Seguindo-se ao diagnóstico de mania puerperal, o tratamento recomendado era “depilar e aplicar frio à cabeça, administrar tártaro emético, purgar, e induzir a formação de bolhas” [15, p. 175]. Dentro dos sanatórios, pacientes mulheres que eram “violentas, perniciosas, sujas [e usavam] linguagem suja” eram colocadas em confinamento na solitária, [8, p. 81] uma punição não conhecida por homens com comportamento semelhante. Mulheres barulhentas também eram mantidas quietas por meio do uso da “rédea da reclamona” [scold’s bridle, 8], um capacete de metal que emoldura a cabeça com um “freio” de metal colocado na boca.

Um tratamento feminilizado, tornado famoso por meio de sua exposição na novela autobiográfica de Charlotte Perkins Gilman, O Papel de Parede Amarelo, foi a cura de descanso na cama de Silas Weir Mitchell. Envolvia uma mulher (e era sempre uma mulher) ser confinada à sua cama em um quarto escurecido por entre seis semanas e dois meses, proibida de qualquer atividade mental ou física, o que incluía conversar, ler, escrever ou mesmo sentar com as costas retas, com uma enfermeira se encarregando de alimentá-la e de limpar seu penico. Algumas mulheres também recebiam massagens elétricas, para estimular seus membros. [16] Gilman escreveu como esse tratamento a enlouqueceu: “Eu rastejava para dentro de armários sombrios e para baixo das camas — para me esconder da pressão esmagadora daquela angústia profunda” [17]. Weir Mitchell acreditava que mulheres gostavam de ficar doente, e insistia que ao fazer sua cura pelo descanso tão aversiva, assim como ao ser engordada — ele se gabava de que uma paciente, Srta. G., havia ganhado 18kg em dois meses — seu “amargo remédio” chocaria mulheres de volta à saúde e à sanidade [8, p. 139]. Ele não estava sozinho em exibir desprezo por seus pacientes. Henry Maudsley desprezava não só a “perversão moral” e os “caprichos” imorais de mulheres que “acreditando ou fingindo que não podem ficar de pé ou andar, ficam na cama o dia todo […] objetos de simpatia atenciosa de seus parentes aflitos, quanto o tempo todo sua única paralisia é uma paralisia de força de vontade”. [8, p. 133]
1.1 Esposas e filhas desobedientes: regulando a mulher louca Vitoriana
Quando olhamos para os “sintomas” que provocavam essas afirmações e tratamentos podemos ver como a própria definição de loucura funcionava para controlar e potencialmente punir mulheres por ambos atuar de acordo com uma forma exagerada de feminilidade, ou por ser “inaceitável”, [7, p.8] transgredindo os ideais de feminilidade circulando naquele ponto específico no tempo. Pegue “histeria” como uma categoria diagnóstica. Elaine Showalter argumentou que ela é, de muitas formas, sinonímica à feminilidade, com “seu repertório vasto e instável de sintomas físicos e emocionais — chiliques, desmaios, vômitos, engasgos, choros, risos, paralisia — e a passagem rápida de um para o outro sugeria a labilidade e o capricho tradicionalmente associados à natureza feminina” [8, p. 129]. Paradoxalmente, se a histérica estava louca porque era ultrafeminina (ou feminina demais), muitas mulheres eram posicionadas como loucas por não serem femininas o suficiente: por expressões de si inapropriadas, não serem “exemplares de virtude doméstica”, ou por falharem em seus papéis de esposas e mães.
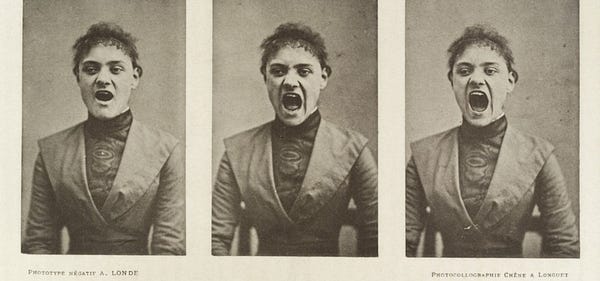
Agnes E. foi internada ao sanatório de Auckland no fim do século XIX por ter “usado linguagem horrível, tendo sido até aquele momento uma mulher decente e até religiosa, completamente recatada”, nas palavras das anotações de seu caso. [21, p. 69] Phebe Davis passou 3 anos no sanatório de Nova Iorque, de 1850 a 1853, diagnosticada como “louca” porque ela havia tido a audácia de discordar de outras pessoas e tornar suas opiniões conhecidas. Elizabeth Stone foi encarcerada no sanatório de McLean, em Charlestown, Massachussets, entre 1840 e 1842, porque sua família não concordava com suas opiniões religiosas, largamente expressadas. Elizabeth Packard foi internada ao Hospital do Estado para Loucos em Harrisburg, Pensilvânia, em 1857, após a venda de móveis que ela havia anteriormente comprado no crédito, e que ainda não haviam sido pagas. Sua família considerou um diagnóstico de insanidade preferível a uma ação perante a justiça criminal, e ela ficou no sanatório por 28 anos, até muito depois de aqueles membros familiares que a haviam internado (e que portanto podiam efetuar sua soltura) haviam morrido. Inversamente, em 1898 Alice Bingham-Russell escreveu de uma “jovem mulher (…) aprisionada em um manicômio” porque ela “se recusa a vender suas propriedades para atender aos caprichos de seu marido” [i]:
Ele, agindo sob conselho de um advogado, conseguiu tê-la declarada louca […] sem amigos à mão nem oportunidade de notificá-los, enquanto o juiz, dois médicos e seu marido estão sob juramento para fielmente performar seu papel, essa mulher jovem e capaz que esteve fazendo, até a hora anterior, todo seu trabalho doméstico, incluindo o cuidado de duas crianças, sai de uma boa casa e uma boa propriedade no valor de $20,000 para se tornar caridade pública e para se misturar e associar continuamente com doidos. [19, citado por 7, p. 195]
Charlotte Perkins Gilman foi submetida a seis semanas da cura por descanso na cama — sendo confinada à cama, em um quarto escurecido, alimentada com mingau, e negada de toda companhia ou estímulo intelectual — em 1887. [ii] Sua doença eram exaustão e apatia associadas à maternidade, ao trabalho doméstico, e às relações com seu marido, “sintomas” que eram exacerbados por seu desejo de engajar em uma vida intelectual, de acordo com seu psiquiatra. Refletindo sobre sua própria “doença”, ela escreve:
Nós estávamos casados havia quatro anos ou mais. Esse estado mental miserável, essa escuridão, debilidade e melancolia, havia começado naqueles difíceis anos da corte; piorara rapidamente depois do casamento, e não ameaçava uma perda completa; ao passo que eu tinha repetidas provas de que no momento em que eu saía de casa, eu começava a me recuperar. Parecia correto desistir de um casamento equivocado. [20, pp. 167–168]
De fato, no ápice de sua doença, quando ela saiu de casa para visitar amigas, “débil e sem esperanças […] armada com tônicos e sedativos”, ela percebeu que “no momento em que as rodas começaram a girar; o trem, a se mexer, eu me senti melhor” [20, p. 165]. Quando ela eventualmente abandonou seu casamento “equivocado” de vez, e foi capaz de se engajar por completo numa vida de reflexão e de escrita, ela se recuperou por completo.
Outras mulheres não tiveram tanta sorte. Susannah E. foi foi internada três vezes entre 1869 e 1870 por tentar abandonar seu marido, e Helen C. foi internada após uma reclamação legal de mau tratamento marital, o que incluía ter sido chamada de “vadia do caralho” e despejada de sua casa, depois de pedir um copo de água para seu marido [21, p. 71]. Era claramente esperado que esposas fossem obedientes, respeitosas e satisfeitas — assim como mães. Mary O. foi admitida no sanatório de Auckland por se recusar a “ver suas crianças no quarto” e pedir que “tire eles de perto dela”, e Jessie N. foi hospitalizada no mesmo lugar por “ter muito mais satisfação em estar distante de [suas crianças] do que uma mãe sã teria” [21, p. 73]. Como Bronwyn Labrum escreve em sua análise dos casos do sanatório de Auckland, era esperado que mães fossem “abnegadas e generosas; pessoas que dão, não que pegam; não voltadas para si mesmas como outra mãe ‘negligente’ era descrita” [21, p. 73]. Todas essas mulheres foram encarceradas a pedido de seus pais ou maridos. Uma vez que mulheres eram admitidas ao “cuidado” psiquiátrico, elas poderiam ficar hospitalizadas por muitos anos, privadas de qualquer contato com o mundo externo, particularmente se sua família assim o quisesse. Muitos maridos e famílias queriam isso por suas próprias razões egoístas. Lydia A. Smith, que foi admitida ao sanatório de Kalamazoo, Michigan, entre 1867 e 1871 [iii], escreveu:
É algo bem moderno e fácil agora transformar uma pessoa em louca. Se um homem se cansa de sua esposa, e é enganado por alguma outra mulher, não é uma forma muito difícil de colocá-la em uma instituição desse tipo. Beladona e clorofórmio lhe darão a aparência de ser louca o suficiente. [7, pp. 135–136]
O diagnóstico de loucura, portanto, funcionava de forma bastante efetiva para livrar a sociedade — ou os maridos — de mulheres que eram “difíceis”, ou que não eram mais requisitadas. Essa prática foi imortalizada na ficção do século XIX, que refletiu o crescente interesse na psicologia (ou na insanidade) feminina por parte da psiquiatria [22]. Assim, Wilkie Collins escreveu The woman in white (1859) [A mulher de branco, em pt/br], que foi encarcerada num sanatório por saber segredos de um homem poderoso, o mesmo homem que depois encarcerou sua esposa para controlar sua fortuna. Bertha Mason, a esposa louca no livro Jane Eyre (1847) de Charlotte Brontë, foi confinada no sótão por seu marido, Sr. Rochester. A louca e sexualmente depravada Bertha, com seus olhos vermelhos fixos e cabelos selvagens, cujos piores ataques vinham quando a lua estava “vermelha como sangue” ou “grande e vermelha”, nos lembra da conexão entre loucura e menstruação [8, p. 67], servindo como a antítese da castidade e da sanidade da governanta Jane [22]. Bertha serve de exemplo a Jane de como não agir e de como não ser [23, p. 361], e, ao casar com Jane, Rochester buscar se salvar das garras de sua animalesca e degenerada primeira esposa. Entretanto, Bertha também já foi interpretada como o doppelgänger de Jane, apresentando-se como uma imagem espelhada distorcida da própria “fome, rebelião e raiva” reprimidas de Jane [23, p. 339], suas propensões perigosas em direção à “paixão” [24, p. 16]. Isso nos lembra de que o nome da loucura é uma possibilidade para toda e qualquer mulher. Nenhuma de nós está imune.
Bertha Mason reclama sua vingança ao queimar abaixo a casa na qual está aprisionada, lesionando seriamente seu carcereiro/marido e tirando sua própria vida no processo. Como todas as mulheres que cometem crimes violentos [18], ela é vista como “duplamente desviante” porque ela transgrediu “ambos a lei e a razão” [25, p. 42]. Como Kathleen Kendall comenta, a feminilidade é considerada como antitética à criminalidade violenta, o que significa que as mulheres do século XIX que eram consideradas ambos más e loucas “eram ainda mais estranhas à civilização humana do que seus semelhantes homens” [25, p. 51]. No sistema judiciário Vitoriano, as mulheres colocadas como “lunáticas criminosas” eram vistas como estando à mercê de seus corpos reprodutivos, o que as destituía de qualquer agência, e negava o contexto social de suas vidas (era mais provável que elas fossem pobres, ou de uma minoria étnica) [26]. Se elas então fossem sentenciadas ao encarceramento em um sanatório, não havia data de soltura automática, em contraste às pessoas com sentença criminal, o que resultava em mulheres ficando num “purgatório psiquiátrico” [3, p. 95], até que fossem consideradas “sãs” — o que poderia ser nunca. Adriana P. Brinkle escapou de sua sentença de 28 anos por vender um móvel comprado no crédito apenas quando uma nova lei de doença mental entrou em vigência na Pensilvânia em 1883, a qual exigiu que um Comitê de Doenças Mentais examinasse todos os pedidos feitos por internos dos sanatórios. Antes disso, todos os seus pedidos por liberdade foram ignorados, apesar de ela nunca ter recebido um diagnóstico formal. Como Kate Millet comentou, ao discutir seus próprios tratamento e diagnóstico contemporâneos no livro The loony-bin trip [“A viagem pro depósito de doidos”, em tradução livre, porque esse livro não tem tradução; 1990][27],
loucura é pior do que um crime; o crime merece julgamento, advogado, uma sentença anunciada se há condenação. Se absolvida de um crime; a pessoa está livre para ir embora. [Com um diagnóstico] você nunca será absolvida, e, na verdade, você não é nem um pouco inocente quanto diz. [27, p. 232]
1.2 Hospitalização e terapia eletroconvulsiva: construindo uma “mulher boa”
O encarceramento forçado de mulheres e a regulação por meio da rotulação psiquiátrica de “louca” não é um anacronismo peculiar ao século XIX. Frances Farmer foi encarcerada no Hospital Estadual de Washington para Doentes Mentais por 6 anos entre 1944 e 1950 [iv], por estar “fora de controle” — fenômeno manifestado por beber, fumar, xingar e fazer sexo com homens. Farmer, uma atriz de filmes de Hollywood, foi hospitalizada à força por sua mãe, e sujeita a psico-cirurgia. Ironicamente, nessa mesma era, Hollywood representava exemplos ficcionais de mulheres falsamente acusadas de loucura. O filme de 1944 Gaslight [n/t: de onde se origina o termo gaslighting], dirigido por George Cukor e estrelando Ingrid Bergman, centrado em um marido lentamente enlouquecendo sua esposa Paula. Ele fez isso ao convencê-la de que ela havia perdido ou roubado objetos valiosos, de que estava ouvindo passos no sótão, e de que estava imaginando as lamparinas apagando em sua casa. Ele era responsável por tudo isso ele mesmo, na tentativa de conseguir que Paula fosse admitida para tratamento psiquiátrico, para que ele mesmo ficasse livre para feitos mais nefastos (buscar por jóias escondidas no sótão da casa deles).

Entretanto, ainda que as histórias de Hollywood possam acabar bem — Paula expõe os planos de seu marido e percebe que ela é perfeitamente sã — , no mundo real, muitas mulheres não têm tanta sorte. Na primeira metade do século XX, mulheres eram hospitalizadas por engravidar fora do casamento, depois de terem sido sexualmente abusadas, ou simplesmente por serem problemáticas demais para se ter em casa. Se essas mulheres estavam perturbadas na ocasião de sua primeira admissão não é de se surpreender, dadas as circunstâncias de suas vidas. Mas se elas eram “loucas”, entretanto, está aberto a sérios questionamentos. Pegue, por exemplo, Olivia Brown [v], que foi hospitalizada por 35 anos entre 1951 e 1986, no Hospital Shenley, em North London, com um diagnóstico de “ansiedade crônica”, manifesta por “paranoia, noites sem dormir, super-excitabilidade e distração”, depois do abuso sexual praticado por um colega homem no trabalho. Olivia recebeu 22 tratamentos de terapia eletroconvulsiva em 1951, que a deixaram confusa e sofrendo de perdas de memória. Ainda que ela fosse descrita como “levemente exaltada, falante e feliz” nos anos que se sucederam, ela não deixou o hospital até 1961, quando ela foi abruptamente devolvida aos cuidados psiquiátricos após uma briga com sua mãe, com quem ela estava ficando. A mãe de Olivia também se queixou da “severa dependência” e da indisposição de sair de casa de sua filha — o que não é de se surpreender numa mulher de 39 anos que ficara institucionalizada por 10 anos. Sua sentença vitalícia de encarceramento — mais de duas vezes a duração da sentença média por homicídio — acabou em 1986 somente porque o hospital estava fechando. Olivia foi um dos primeiros “casos” que me foram dados com que trabalhar quando eu estava treinando para ser psicóloga clínica, e ela estava eufórica de estar de volta no mundo. Eu estava ajudando-a a desenvolver habilidades relativas a segurança na rua — certamente não havia nada “bagunçado” com sua cabeça.
A situação de Olivia era semelhante àquela de muitas mulheres admitidas ao Hospital Psiquiátrico de Glenside, no estado de South Australia, descrito por Jill Matthews em seu livro Good and mad women [“Mulheres boas e loucas”, em tradução livre][28]. Irma Weiman foi admitida a pedido de seu marido em 1960 porque ela se recusava a falar com ele, deu comida enlatada para suas crianças, e então supostamente as amedrontava para que elas evitassem seu pai — acusações que Irma negava veementemente [28]. Semelhantemente, em 1970, Carmella Gniada foi hospitalizada porque seu marido disse que ela era insuportável, não conseguia lidar com a família, estava chorando o tempo todo, tinha casos com dois homens, e não gostava dele. Ele também não gostava da família dela, que ele achava “dominantes” [28, p. 145]. Gwen Kirk foi hospitalizada em 1968, após uma depressão associada a uma “gravidez ilegal” (ela não estava casada), assim como uma série de relacionamentos com homens, conduzidos sem intenção nenhuma de compromisso. Seu psiquiatra a descreveu como uma “femme fatale” e desprezada suas “atividades amorosas ilícitas”, descrevendo seu comportamento como análogo à “prostituição”, mesmo que Gwen nunca tenha pedido homens que pagassem por sexo [28, p. 125].

Semelhantemente, Susanna Kaysen foi hospitalizada no Hospital McLean, em Massachussetts, em 1968, aos 18 anos, por ter “uma crescente ausência de padrão na vida, promíscua, pode se matar ou engravidar”, conforme descrito no arquivo de seu caso [29, p. 11]. Ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Kaysen documentou sua experiência no livro de memórias Girl, interrupted [Garota, interrompida], que então foi transformado num filme de Hollywood. Katie Allen, que foi admitida no Hospital Glenside sofrendo de depressão, foi criticada nas anotações de seu caso por ser “repelida” por seu marido, levando a um diagnóstico de “homossexualidade latente” [28, p. 116]. Um diagnóstico pejorativo de lesbianismo também pode ser aplicado a mulheres solteiras. Eve Innes foi admitida em Glenside em 1965, aos 24 anos, e descrita como “sempre esquizoide; sem namorados, não dança, não queria ir dançar”, com cabelos “não cortados e despenteados”, “sem maquiagem” e “uma aparência não feminina”, levando a suspeitas sobre sua atração a uma das funcionárias mulheres da enfermaria. As anotações posteriores do caso de Eve expressam alívio quando ela “se vestia em roupas femininas para ir à ala social”, demonstrando que ela era uma “jovem moça em desenvolvimento com sentimentos heterossexuais” [28, p. 122].
Em todos esses casos, mulheres transgrediram os ideais de feminilidade que eram aceitos como a norma em um momento particular no tempo: adotar crenças religiosas contrárias ou querer uma vida independente no século XIX; ser sexual fora do casamento heterossexual na primeira metade do século XX; ser violenta, ou rejeitar um papel estreitamente prescrito de esposa e maternidade ao longo da vida. Portanto, enquanto o diagnóstico de loucura serve para definir o que é o “outro”, o que é merecedor de “tratamento” para engendrar conformidade, também mantém os limites da feminilidade normativa. Porque ao identificar o que é desviante ou fora de ordem, nós amparamos a própria definição do que é “são”, a própria definição da “boa mulher”. Ao mesmo tempo, a loucura reside como um espectro para todas as mulheres, um aviso de seu possível destino se elas dispersarem do caminho esperado delas. Ao posicionar a mulher louca como a “outra”, como alguém que precisa de tratamento para modificar sua perturbação ou seu comportamento desordenado, também usamos disso para separar nós mesmas dessa criatura medonha, e para nos puxar pra trás de ter que encarar o abismo de nossos próprios demônios ou desespero. Como Sander Gilman argumenta, [30] é nosso próprio medo de colapso que é desenvolvido, e amenizado, em imagens ocidentais de doenças, como a loucura. Porque “não somos nós que cambaleamos à beira do colapso, mas o Outro. E é um Outro ou uma Outra que já mostrou sua vulnerabilidade ao ter colapsado” [30, p. 1].
Uma vez que mulheres recebem um diagnóstico psiquiátrico, tudo que elas fazem pode ser potencialmente interpretado como um “sintoma”. E, portanto, Seymour Halleck argumenta no livro The politics of therapy [“A política da terapia”, tradução livre][31], nós então paramos de ouvir o indivíduo, e não olhamos para o ambiente social que está lhes fazendo mal. A imposição de um diagnóstico de depressão maníaca resultou em Kate Millet sentir que ela estava sendo ignorada. Ela acreditava que sua companheira Sophie a enxergava como “não mais válida”. Ela era considerada “incompetente, cancelada, mas o que eu havia me tornado para ela, uma doida” [27, p. 64]. Semelhantemente, uma mulher diagnosticada com transtorno de personalidade borderline pontuou, “ter esse diagnóstico resultou em eu ser tratada exatamente da mesma forma como eu era tratada em casa. O minuto em que eu tive esse diagnóstico as pessoas pararam de me tratar como se o que eu estivesse fazendo tivesse uma razão” [32, p. 128]. Diagnósticos psiquiátricos também podem ter consequências materiais para as vidas das mulheres, não só resultando na hospitalização e nos “tratamentos” forçados descritos acima, mas também ao criar problemas com empregadores, planos de saúde, e custódia de crianças, assim como ao diminuir o direito de tomar decisões sobre questões judiciais [33].
Ainda assim, diagnósticos também parecem ter benefícios positivos. Ao discutir essas questões complexas, Emily Caplan apresenta o caso de “Tara”, que foi capaz de preencher suas necessidades educacionais específicas por conta de um diagnóstico de “transtorno de déficit de atenção”, e evitou uma sentença de prisão apesar de uma condenação por furto de pequeno valor, porque foi considerado que ela tinha “responsabilidade diminuída” por conta de “transtorno de estresse pós-traumático” [33, p. 52]. No mesmo sentido, numa análise de alegações de insanidade em crimes violentos na Inglaterra e no País de Gales entre 1832 e 1901, Jill Ainsley descobriu que mulheres tinham mais sucesso em seus pedidos do que homens (na proporção de 87% comparado a 59%), refletindo a tendência de atribuir as ações criminosas de mulheres à sua biologia reprodutiva, a qual àquela época as exonerava de responsabilidade [34]. No entanto, isso é às custas de ser posicionada como louca, como fora da razão — que não é um lugar positivo para uma mulher habitar, independentemente dos benefícios a curto prazo. Tara perdeu a guarda de sua criança, e depois de sua morte teve a herança delineada em seu testamento anulada, por conta de seus diagnósticos psiquiátricos. Igualmente, mulheres do século XIX encarceradas por insanidade criminal eram sujeitas a “medidas extraordinárias de domesticação sistemática e conceitual” pelas autoridades, porque elas estavam “em direta violação dos padrões de identidade de gênero de mente e de ação”, nas palavras de Robert Menzies e Dorothy Chunn [3, p. 81]. Pouco mudou. Mulheres admitidas a hospitais de segurança hoje em dia ainda são infantilizadas, sujeitas a terapia eletroconvulsiva três vezes mais do que homens, assim como têm maior probabilidade de receberem terapia eletroconvulsiva e medicação forçadas, [35] e reportam taxas maiores de abusos físicos e emocionais por funcionários — punições por não “estarem na linha” [36, p. 231]. E essa é uma linha que é claramente baseada em gênero, uma vez que construções idealizadas de feminilidade ainda influenciam os diagnósticos psiquiátricos hoje.
2 Diagnósticos com viés de gênero
Phyllis Chesler escreve:
Mulheres que fazem o papel feminino condicionado são clinicamente vistas como “neuróticas” ou “psicóticas”. Quando e se elas são hospitalizadas, é por comportamentos predominantemente femininos, como “depressão”, “tentativas de suicídio”, “neuroses de ansiedade”, “paranoia”, transtornos de alimentação, automutilação ou “promiscuidade”. Mulheres que rejeitam ou que são ambivalentes quanto ao papel feminino amedrontam ambas elas mesmas e a sociedade tanto que seu ostracismo e sua auto-destrutividade provavelmente começa muito cedo. A tais mulheres está assegurado um rótulo psiquiátrico, e, se forem hospitalizadas, é por comportamentos menos “femininos”, como “esquizofrenia”, “lesbianismo” ou “promiscuidade”. [149, p. 116]
Essas práticas de patologizar a feminilidade continuam século XXI adentro — a diferença hoje é que pesquisadoras feministas podem fornecer evidências empíricas para fundamentar suas alegações, expondo o viés de gênero em diagnósticos e tratamentos psiquiátricos. Porque enquanto no capítulo 2 eu delineei o argumento de que a loucura é uma construção discursiva, feministas estenderam essa crítica para demonstrar que é uma construção imbricada pelo gênero. Muita atenção tem sido dada a pesquisas conduzidas por Broverman e colegas no fim dos anos 60, [vi] em que se argumentava que mulheres que se conformavam ao papel feminino, e, paradoxalmente, também aquelas que o rejeitavam, têm probabilidade de receber um diagnóstico psiquiátrico [38]. Ao mesmo tempo, descobriu-se que definições de saúde mental coincidem com definições de masculinidade, enquanto que feminilidade era vista como psicologicamente não saudável. Na década depois de essa pesquisa ser publicada pela primeira vez, um turbilhão de estudos tentaram replicar os resultados, a maioria usando estudos análogos nos quais se pedia a psiquiatras que fizessem diagnósticos com base em materiais de casos anônimos descritos como homens ou mulheres (ou sem receberem gênero nenhum). Ainda que tenha havido controvérsias a respeito dos resultados iniciais de Broverman e colegas, com foco na metodologia e no tipo de análise estatística utilizada [37;39], a maioria dos estudos subsequentes confirmou suas conclusões, [ver 40], reportando que psiquiatras posicionavam mulheres que desviavam de estereótipos de papéis de gênero como as mais perturbadas.
Por exemplo, um estudo por Waisberg e Page descobriu que mulheres que exibiam sintomas dos chamados “transtornos masculinos” — abuso de álcool e transtornos de personalidade antissocial — eram vistas como mais severamente perturbadas do que seus equivalentes homens [41]. No mesmo sentido, dados de 666 admissões psiquiátricas de emergência analisadas por Rosenfield revelaram que era mais provável que mulheres fossem hospitalizadas por sintomas “masculinos” de transtorno de personalidade antissocial, agressão, ou abuso de substâncias [42]. Isso é reminiscente dos sanatórios Vitorianos onde as mulheres eram encarceradas por falar fora de sua vez, ou por se recusarem a adotarem um papel feminino aquiescente — sendo mandadas ao confinamento na solitária, ou sujeitas à “rédea da reclamona”, se exibiam comportamento “agressivo” dentro das paredes do sanatório. Entretanto, é importante reconhecer que os estereótipos de gênero também são usados nos diagnósticos de homens. No estudo de Rosenfield, homens tinham mais chances de serem hospitalizados pelos sintomas “femininos” de depressão e ansiedade [42], e no estudo de Waisberg e Page, homens deprimidos eram vistos como muito mais perturbados do que mulheres deprimidas [41]. Como a “depressão” é conceituada como um “problema de mulher”, isso não é surpreendente.

Ao mesmo tempo, já foi reportado que praticantes de medicina super-diagnosticam depressão em mulheres, no sentido de que o diagnóstico é dado mesmo quando as mulheres não se encaixam nos critérios padronizados.[43] Contrariamente, quando mulheres e homens de fato se encaixam em todos os critérios de diagnóstico de depressão, já se reportou que homens têm menos chance de receberem diagnóstico.[43] Em um estudo, o super-diagnóstico de mulheres operava apenas como psiquiatras homens,[44] sugerindo que o gênero (ou talvez os preconceitos) dos médicos pode influenciar em seu julgamento — o que se alinha com relatórios anteriores de que as identidades pessoais e as características demográficas de clínicos influenciam como eles/elas se relacionam com clientes.[45] Isso sugere que os estereótipos de papéis de gênero usados por clínicos levam a mulheres serem posicionadas com intrinsecamente mais desajustadas; profissionais de saúde esperam que mulheres sejam loucas (ou “deprimidas”), então são mais propensos a procurar por isso, e a ver isso mesmo quando isso não está lá. Também já se alegou que o viés de gênero existe nos questionários padronizados que medem a depressão, já que muitos categorizam experiências que são normativas para mulheres ou que são parte dos papéis femininos (como chorar, tristeza ou perda de interesse no sexo) como “sintomas” [46, vii]. Portanto, instrumentos como o Beck Depression Inventory (BDI), que são frequentemente usados em pesquisas epidemiológicas de larga escala, talvez estejam simplesmente superestimando “sintomas” depressivos em mulheres,[46] e portanto distorcendo conclusões sobre diferenças de gênero na psicopatologia. Inversamente, já foi sugerido que as medidas padronizadas de depressão podem sub-diagnosticar depressão em grupos culturais específicos, como mulheres sul-asiáticas, como resultado de [essas medidas] serem culturalmente ou linguisticamente insensíveis aos significados de angústia em um contexto não-ocidental.[48]
Mulheres em grupos demográficos específicos — particularmente, mulheres da classe trabalhadora,[49] mulheres Negras,[44] mulheres mais velhas,[50] e lésbicas [51] — têm o maior risco de serem incorretamente diagnosticadas. Por exemplo, o estudo de referência conduzido por Hollingshead e Redlich em 1958 reportou que clientes de menor renda tinham mais chance de receber um diagnóstico de doença mental severa, e também tinham mais chance de receber terapia eletroconvulsiva, medicamentos, lobotomias ou de serem colocados sob curadoria do Estado, quando comparados a clientes mais abastados.[52] Da mesma forma, descobriu-se que terapeutas avaliam clientes afro-americanos deprimidos mais negativamente do que anglo-americanos deprimidos,[53] com terapeutas brancos avaliando clientes afro-americanos como mais psicologicamente comprometidos do que terapeutas afro-americanos.[54] No Reino Unido, as taxas mais baixas de depressão em mulheres sul-asiáticas foram explicadas por um grupo de profissionais de saúde por meio da adoção de uma série de estereótipos “orientalistas” que agiam para patologizar a cultura sul-asiática — posicionando-a como o “outro”, patriarcal e repressor — comparada a um Ocidente idealizado e libertado.[55] Isso pode resultar nas angústias e necessidades de saúde mental de mulheres sul-asiáticas acabarem não-reconhecidas e não-tratadas, [56] além de acrescentar ao alto nível de estigma associado à discussão de angústia psicológica que já existe nesse grupo cultural. [57]
Mulheres mais velhas também são vulneráveis a ambos super- e sub-diagnósticos; [50] a tendência a patologizar tudo de pessoas mais velhas frequentemente leva à infelicidade ser vista como transtorno psiquiátrico, quando não é, [31] enquanto a invisibilidade leva à falta de reconhecimento das angústias e à recusa de serviços necessários.[58] E ainda que a homossexualidade tenha sido oficialmente removida do DSM, muitos clínicos ainda a enxergam como patologia, e patologizam lésbicas que buscam ajuda por problemas com relacionamentos ou trabalho, vendo sua sexualidade como um ponto de preocupação [51]. Da perspectiva da interseccionalidade [ver 59], em que se reconhece que todas temos identidades sociais e culturais múltiplas, ser um membro de vários grupos minoritários ou marginalizados também pode exacerbar a vulnerabilidade a diagnósticos equivocados. Por exemplo, diferenças no desenvolvimento da identidade têm sido reportadas entre lésbicas brancas e afro-americanas ou latinas, [60] o que tem implicações para a saúde mental e o bem-estar, e tem sido reportado que mulheres mais velhas que são pobres encaram a dupla discriminação de classe e idade. [50]
Uma explicação mais além, relacionada a isso, para as taxas mais altas de diagnósticos de loucas em mulheres é que homens e mulheres são diferentes em sua apresentação de angústia, significando que mulheres têm maior tendência a caírem sob o olhar escrutinizante dos profissionais de saúde. Isso sugere que as diferenças de gênero na depressão são um artefato — o resultado de mulheres terem maior propensão do que homens a reportarem ou sintomas leves de depressão [61], ou sintomas que duram alguns dias [62]. Inversamente, Já se sugeriu que homens têm maior tendência a esquecerem seus sintomas depressivos do que mulheres [63], ou a minimizar a severidade de episódios passados [64]. O fato de que muitos profissionais de saúde acreditam nessa explicação é ilustrado pelos achados do Gender and Therapy Referrals Study, conduzido por Janette Perz e eu mesma (ver o apêndice do livro)[65], em que perguntamos a clínicos gerais (CG) e a profissionais de saúde mental associados (PSMA) para explicar por que 70% das 746 indicações para terapia psicológica dentro de um período de doze meses eram mulheres. [viii] A maioria nos disse que mulheres se apresentam com mais frequência em sua prática médica geral, frequentemente por conta das necessidades de saúde de suas crianças ou de outros membros familiares dependentes, permitindo que a mulher, ou o CG, levante a questão da depressão:
- Mulheres participam em exames de saúde de rotina, então têm maior oportunidade/conforto em levantar questões psicológicas.
- Mais mulheres frequentando a prática de CG com membros da família, p. ex. crianças, portanto elas têm uma “ligação” mais próxima com o/a CG e o/a CG pode ver questões familiares impactando a paciente.
A segunda explicação que deram centralizava na percepção de que devido ao estigma percebido, é menos provável que homens busquem ajuda do que mulheres porque isso pode parecer fraqueza:
- Estigma sobre o aconselhamento que os homens acham difícil de aceitar.
- Mulheres […] não veem a saúde mental como uma fraqueza nas mesmas proporções que homens.
- Estigma social. Esperado que homens sejam o gênero mais forte. Medo de inadequação e fracasso.
Inversamente, mulheres eram vistas como mais propensas a pedir ajuda e levantar questões de saúde mental com seu/sua CG:
- Mulheres são mais vocais e “expressivas” em suas demandas. Mulheres veem a si mesmas e à sua saúde de forma diferente, e, portanto, têm expectativas diferentes.
- Mulheres são mais propensas a falar sobre questões psicológicas/a levantar questões psicológicas.
- Geralmente mulheres se sentem mais confortáveis em buscar ajuda por questões médicas em geral.
Finalmente, foi afirmado que os sintomas psicológicos de homens e de mulheres se apresentam de forma diferente:
- Os sintomas de mulheres de problemas psicológicos se expressam externamente e portanto são mais evidentes para outras pessoas em comparação aos homens, que tendem a internalizar. Portanto, [mulheres são] mais propensas a serem aconselhadas / encorajadas por outras pessoas a obter ajuda.
- Homens são mais propensos a reclamar de dor de cabeça, tontura. Mulheres são mais propensas a identificar que estão ansiosas, estressadas ou deprimidas.
Talvez haja alguma base nessas crenças, porque há evidência de que homens são menos propensos do que mulheres a se autodiagnosticar com depressão, enxergando isso como auto-indulgente e improdutivo [66–67]. Já se reportou que homens que vivenciam tristeza prolongada são menos propensos do que mulheres a expressar seus sentimentos abertamente, o que pode dificultar que clínicos detectem que há um problema [68–69]. Entretanto, ao mesmo tempo, a crença na veracidade dessas observações pode servir como justificativa para o viés de gênero nos julgamentos dos clínicos, e para a ausência de auto-reflexão, porque a responsabilidade pelo super-diagnóstico de mulheres (assim como o suposto sub-diagnóstico de homens) é colocada firmemente nos pés do “paciente”. É interessante que nenhuma dessas observações continha descrições de mulheres como mais desajustadas ou loucas do que homens, ou de homens como mais psicologicamente saudáveis. Será isso porque CGs e profissionais de saúde mental associados foram educados em um discurso pós-feminista no qual têm consciência do potencial viés de gênero nos diagnósticos, e são determinados a não cair nessa armadilha eles/elas mesmos/as? Como o estudo de Broverman e colegas [38] que explorou pela primeira vez esse viés de gênero empiricamente tem demonstrado estar dentre os mais citados artigos no campo da psicologia, e tem “impactado o pensamento de uma geração de psicólogos e profissionais de saúde mental” [37, p. 126], não seria de se surpreender se fosse o caso. No entanto, isso não significa que diagnósticos com viés de gênero deixaram de acontecer.
3 Transtornos de personalidade borderline e histérica: patologizando a feminilidade exagerada
Janet Wirth-Cauchon escreve:
Os sintomas de mulheres diagnosticadas como borderline podem ser lidos como respostas significativas ou inteligíveis à dupla amarra da subjetividade feminina. […] o self dividido da paciente com borderline tem suas origens não em uma psique falha, mas no contexto geral da divisão cultural ocidental entre um reino desvalorizado do feminino e do corpo, e o reino do sujeito autônomo — o reino da razão e da mente. Mulheres, nas adjacências entre esses dois reinos, devem negociar com ambos. [70, pp. 157–158]
A depressão não é o único diagnóstico a ser examinado criticamente por ser mais rapidamente aplicado a mulheres. Argumentos semelhantes têm sido feitos sobre a maior propensão de mulheres a serem diagnosticadas com transtorno de personalidade histérica, a encarnação moderna da histeria. A descrição do transtorno de personalidade histérico no DSM II [n/t Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais], publicado em 1968, tem sido descrita como “essencialmente uma caricatura da feminilidade exagerada” [71, p. 158], já que os “sintomas” incluíam excitabilidade, instabilidade emocional, reações exageradas e autodramatização. De fato, a descrição no DSM-II de histéricas, como “mulheres que querem chamar atenção, sedutoras, imaturas, autocentradas, fúteis, […] e dependentes de outras pessoas” [72, p. 251] é quase idêntica à descrição novecentista da histeria, delineada no capítulo 1. É também quase próxima à versão arquetípica da feminilidade que era esperado que mulheres seguisse nos anos 50 e 60, parodiadas (ou talvez celebradas) na série de televisão do século XXI sobre os executivos de publicidade da Madison Avenue, Mad Men. No DSM-III [73], publicado em 1980, o transtorno de personalidade histérica foi renomeado “transtorno de personalidade histriônica”, para evitar as conotações negativas que estavam associadas à “histeria” [71]. Entretanto, os descritores do paciente típico desenhado no DSM-III ainda retratam uma feminilidade exagerada, alguém que é “tipicamente atraente e sedutor […] demasiadamente preocupado com a atratividade física”, além de interessado em “controlar o sexo oposto ou entrar em um relacionamento de dependência [e continuamente demandando] reafirmação, aprovação ou elogios” [73, p. 348]. Não é assim que somos ensinadas a “ser menina” por meio de revistas adolescentes, ficções românticas, e filmes de meninas adolescentes? [ver 74] Mas precisamos ter cuidado. Performar essa versão particular de feminilidade “sedutora” pode atrair mais do que um homem: pode claramente atrair um diagnóstico psiquiátrico. Isso foi evidenciado num estudo em que foi pedido a psiquiatras que julgassem uma variedade de descrições de casos, nos quais o diagnóstico de transtorno de personalidade histriônica foi dado a mulheres, apesar de os estudos de caso darem pouca indicação da desordem. [44]

Mudanças nos papéis de gênero depois dos anos 60 e 70, que viram mulheres ocidentais entrarem na força de trabalho em números sem precedentes, e remodelaram relações sexuais e familiares, resultaram na marginalização da histeria como categoria diagnóstica. No entanto, como Mary Ann Jimenez argumentou, isso não significou que a feminilidade exagerada deixou de ser patologizada, já que o transtorno de personalidade borderline simplesmente tomou o lugar da histeria, capturando “valores contemporâneos sobre o comportamento de mulheres” [71, p. 161]. Descrito como um diagnóstico psiquiátrico “feminizado” [75], porque é aplicado mais frequentemente a mulheres do que a homens [76], entre três e sete vezes mais frequentemente [77–78], os critérios para o transtorno de personalidade borderline consistem de sintomas que caracterizam “qualidades femininas” [71, p. 163]. Essas incluem depressão e labilidade emocional, assim como “impulsividade em áreas como furtos em lojas, abuso de substâncias, sexo, direção imprudente, e ingestão compulsiva de alimentos”, e “confusão de identidade”, evidenciada por “incertezas quanto à própria imagem, orientação sexual, objetivos de longo prazo ou escolha de carreira” [79, p. 347]. Entretanto, onde o transtorno de personalidade borderline difere da histeria (ou do transtorno de personalidade histriônica) é a inclusão da característica mais masculina de “intensa raiva inapropriada” como critério de diagnóstico [71]. Então ainda que ambas categorias diagnósticas adotem estereótipos de gênero em posicionar mulheres específicas como “loucas”, Jimenez comenta, “se a histérica era uma mulher quebrada, a mulher borderline é a perigosa” [71, p. 163]. Já que quase metade das mulheres que se qualificam para um diagnóstico de borderline ou histriônica preenchem os critérios para ambos transtornos [78], muitas mulheres são claramente vistas como ambas quebradas e perigosas.

Mary Ann Jimenez descreveu a paciente borderline típica como uma “mulher agressiva, raivosa e exigente”, que é rotulada como “mentalmente desordenada” por se comportar de uma forma que é perfeitamente aceitável num homem [71, pp. 162,163]. Evidências de que há uma clara diferença na patologização das emoções, em particular na raiva, são sustentadas por pesquisas de Lisa Feldman Barrett e Eliza Bliss-Moreau, que examinaram julgamentos feitos sobre emoções expressados por homens e mulheres. Elas descobriram que a tristeza e a raiva dos homens era considerada relacionada a fatores situacionais — por exemplo, “ter tido um dia ruim” — enquanto que mulheres tristes ou enraivecidas eram julgadas como “emotivas” [80]. Portanto, as emoções das mulheres são consideradas um sinal de patologia, enquanto as emoções dos homens são compreensíveis. Duas mulheres famosas postumamente “diagnosticadas” com transtorno de personalidade borderline na mídia foram Diana, princesa de Gales, [81] e Marilyn Monroe, [82] cujos “sintomas” incluíam raiva, suposta promiscuidade sexual, e descontentamento com seu parceiro (ou amante). Ambas vivenciaram conflitos e colapsos em seus relacionamentos; ambas tiveram uma vida pregressa problemática. Será que homens que se comportassem de maneira semelhante teriam sido diagnosticados como “loucos”? Eu suspeito que não.
Enquanto a depressão é considerada um “sintoma” de transtorno de personalidade borderline, este é uma categoria diagnóstica considerada mais uma “patologia de caráter” do que um distúrbio de humor. [83] Janet Wirth-Cauchon argumenta que o diagnóstico de borderline é tipicamente aplicado a “algumas pacientes mulheres” que são “difíceis, que resistem o trabalho de terapia, ou que são socialmente marginais” [84, p. 87]. Similarmente, Dana Becker descreveu o transtorno de personalidade borderline como “o mais pejorativo dos rótulos de personalidade”, que é “um pouco mais do que uma abreviação para uma cliente difícil, enraivecida, que certamente dará ao terapeuta dores de cabeça contratransferenciais” [78, p. 423]. Como muitas mulheres diagnosticadas como “borderline” foram sexualmente abusadas na infância [85], sua raiva é compreensível, assim como sua “dificuldade” com homens em posições de poder acima delas — os terapeutas que dão diagnósticos. Essas mulheres são patologizadas, ocupando o espaço do abjeto, aquele que é “outro” a tudo que é desejado no sujeito feminino [84]. Como a mulher sincera e difícil do século XVI era castigada como bruxa, e a mesma mulher no século XIX era histérica, no fim do século XX e no século XXI, ela é descrita como “borderline”. Todos são rótulos estigmatizantes. Todos são irrevogavelmente ligados ao que significa ser “mulher” em um momento particular na história. E enquanto a histérica novecentista era considerada instável e irresponsável, como justificativa para sujeitá-la à cura de descanso na cama ou ao encarceramento no sanatório, mulheres diagnosticadas como borderline são frequentemente consideradas mentalmente incapazes, e sujeitas à institucionalização ou à medicalização involuntária, além de serem destituídas da guarda de suas crianças ou de direitos parentais [78, p. 426]. Ao mesmo tempo, um diagnóstico de borderline pode ser usado como justificativa para negar a mulheres o acesso a cuidado de saúde mental, por conta de suposta “resistência” a tratamento [86]. Entretanto, se examinarmos as consequências negativas de “tratamentos” bio-psiquiátricos contemporâneos para muitas mulheres, talvez isso não seja tão ruim.
4 Regulando as mulheres por meio de “tratamentos” bio-psiquiátricos
4.1 Opressão por meio do encarceramento e do tratamento com choques elétricos
Kate Millett escreve:
O depósito [“de loucos”] em si é insano, anormal, um cativeiro aterrorizante, uma privação irracional de toda necessidade humana — que manter a razão dentro dele é uma batalha avassaladora. Depois de certo tempo, muitas vítimas colapsam e concordam em serem loucas; elas se rendem. E se afastam. E conforme o tempo passa, elas não conseguem ou finalmente não vão mais retornar; é longe demais, é muito sem recompensa, é duvidoso demais — elas se esqueceram. E elas vivem suas vidas em suas mentes, nas distrações dentro delas. As angústias e as gratificações de uma fantasia cuidadosamente forjada, construída como um ninho a partir dos farrapos do que um dia fora uma vida mas que não mais poderia ser. [27, p. 67]
Críticas à medicalização das perturbações das mulheres no fim do século XX e no início do século XXI não param no momento do diagnóstico — elas se estendem aos “tratamentos” oferecidos às mulheres pelas profissões psi, em especial aquelas oferecidas pela bio-psiquiatria. O encarceramento psiquiátrico forçado tem sido o objeto das denúncias mais consistentes, conforme evidenciado pelo relato autobiográfico de Kate Millet de 1990 [27]. Porque ainda que a noção de “sanatório” sugira um ambiente pacífico e terapêutico, a realidade para muitas mulheres é o oposto, com pouco acesso a qualquer forma de intervenção psicológica, e a imposição de uma cultura restritiva e humilhante de contenção. Por exemplo, Marina Morrow entrevistou mulheres residentes em instituições canadenses de saúde mental e descobriu que muitas eram re-traumatizadas por sua experiência no cuidado psiquiátrico [86]. Similarmente, Moira Potier, uma psicóloga que trabalhou de 1987 a 1993 no hospital psiquiátrico de segurança de Ashworth no Reino Unido [ix], argumentou que ao invés de ser um ambiente terapêutico, “vai piorar as coisas” para as mulheres lá encarceradas [36, p. 228]. A caridade Women in Secure Hospitals (WISH) [Mulheres em Hospitais de Segurança] concordou, comentando que mulheres internas “se sentem inseguras”, “pisam em ovos o tempo todo”, e vivem num “estado de choque, um estado de medo”; conclusões confirmadas por um comitê de inquérito que examinou o tratamento de mulheres em Ashworth, que foi descrito como “infantilizante, humilhante e anti-terapêutico” [36, p. 228]. Isso é reminiscente das descrições dos sanatórios de loucos Vitorianos como “lugares onde a loucura é fabricada”, onde mulheres eram “enlouquecidas pelas brutalidades do próprio sanatório, e pela falta de seus direitos legais como mulheres, e como prisioneiras” [7, p. xxiii]. A diferença hoje é que as contenções físicas dos sanatórios Vitorianos foram substituídas por tratamentos medicamentosos, cujos efeitos são eloquentemente descritos por Kate Millet:
A droga como curadora, como método oficial agora — é insidioso, o mal verdadeiro. Geralmente a droga é defendida porque pacifica e torna o trabalho fácil para as ajudantes e enfermeiras, para os guardas. Na verdade, faz muito mais do que isso, tudo muito contrariamente à sanidade; ela induz visões, alucinações, paranoia, confusão mental. Nada poderia ser mais difícil do que manter a sanidade mental sob o ataque de uma droga. [27, p. 67]
Mulheres que se recusam a ser pacificadas por drogas (como muitas fazem), ou que são consideradas pacientes que não reagem ou difíceis, são sujeitas a escrutínio e regulação específicos, frequentemente se encontrando patologizadas justamente por seus atos de resistência. Isso foi ilustrado por David Rosenhan em seu estudo etnográfico [87], no qual os protestos de sanidade expressados pelos pesquisadores que tinham entrado em instituições psiquiátricas como cobaias foram considerados evidência de sua loucura [x]. Para pacientes mulheres, sua sexualidade ou feminilidade é central a essa patologização. Por exemplo, Charlotte Ross, admitida ao hospital psiquiátrico de segurança de Essondale na Columbia Britânica no início dos anos 50, foi descrita como exibindo “interrupção no desenvolvimento psicossexual”, e suspeitas de “homossexualidade latente” como resultado de sua resistência à autoridade médica [3, p. 92]. Para suprimir essa resistência, e engendrar obediência e submissão, mulheres são frequentemente ameaçadas com “tratamentos” mais aversivos, como evidenciado pelo relato de Janet Frame em 1961, em seu relato autobiográfico da hospitalização psiquiátrica, a respeito do [seu] medo de escorregar para fora dos limites do que era considerado comportamento aceitável dentre as pacientes:
Eu temia que um dia a Dona Glass, tendo ouvido que eu tinha sido “difícil” ou “pouco colaborativa”, se dirigiria rispidamente a mim, “Certo. Solitária para você, senhorita”. Ouvir outras pessoas serem ameaçadas com tanta frequência me deixou com mais medo, e ver que uma paciente, no ato de ser levada à solitária, sempre lutava e gritava, me deixava morbidamente curiosa sobre o que o quarto tinha que, da noite pro dia, conseguia mudar pessoas que gritaram e desobedeciam em pessoas que se sentavam, se resignavam, e obedeciam apaticamente quando recebiam a ordem de ir para a Sala de Estar, para a Sala de Jantar, para a Cama. […] e a Ala Dois era o meu medo. Eles te mandavam para lá se você era “pouco colaborativa” ou se doses persistentes do tratamento de eletrochoque não produziam em você uma melhora que era julgada largamente por sua submissão e pela pronta obediência a ordens. […] [então] você aprendia com a mais honesta dedicação a “se encaixar”; você aprendia a não chorar quando acompanhada mas a sorrir e a dizer que estava feliz, e a perguntar de tempos em tempos se você podia ir embora, como prova de que você estava melhorando e portanto sem necessidade de ser levada nas sombras à noite para a Ala Dois. Você aprendia as tarefas, a arrumar a cama com o lema do governo do lado certo e com os cantos da colcha asseadamente angulados. [88, pp. 82–83]

A terapia eletroconvulsiva tão temida por Janet Frame é uma das formas de tratamento mais comuns oferecidas dentro de instituições psiquiátricas (invariavelmente oferecidas junto a tratamentos medicamentosos). Foi usado pela primeira vez na Itália nos anos 30 [xi], após a observação de que a esquizofrenia e a epilepsia não coincidem, o que levou à suposição de que a indução de grandes convulsões poderia curar a esquizofrenia [89]. A Associação Americana de Psiquiatria recomenda que a terapia eletroconvulsiva seja usada apenas como último recurso de tratamento, para casos de depressão severa; no entanto, há evidências de que ela é usada muito mais amplamente, e no lugar de outros tratamentos, ao invés de ser usada como último recurso [89]. De fato, a terapia eletroconvulsiva tem aumentado em popularidade nos últimos anos, após uma queda nos anos 80. Por exemplo, na Austrália em 2008 houve 20.121 tratamentos dados nacionalmente, um aumento de 50% em relação ao número registrado 10 anos antes [90]. Como foi observado no capítulo anterior, as mulheres compõem o grosso desses casos. Assim, em 2001–2002 em Ontario, Canadá, terapias eletroconvulsivas foram administradas a 889 mulheres e 425 homens, com 7.514 tratamentos dados a mulheres e 3.546 a homens — mulheres compondo 68% do total em ambos os valores [91].
Em contraste à alegação de que pacientes vivenciam a terapia eletroconvulsiva como um “tratamento útil” [92], Bonnie Burstow o descreveu como “violência patrocinada pelo Estado contra mulheres” [93, p. 115], e Carol Warren como literalmente “uma experiência chocante” [89, p. 287]. Burstow segue para argumentar que é uma prática “assustadoramente anti-mulher”, já que “são os cérebros e as vidas de mulheres que estão segundo violados [e] majoritariamente os cérebros, memória e funcionamento intelectual de mulheres que são vistos como dispensáveis”, com mulheres “sendo aterrorizadas e controladas” [93, p. 116]. O testemunho de várias mulheres que vivenciaram terapia eletroconvulsiva sustenta esse ponto de vista. Por exemplo, mulheres entrevistadas por Lucy Johnstone descreveram a terapia eletroconvulsiva como “tortura” ou “bárbara” [xii]; “como ser batida na cabeça com um martelo”; “ir de encontro à sua morte, à sua ruína”; sentir como se “eles estivessem tentando me matar”; sentir-se “esmurrada, abusada […] uma violência”; sentir-se “como uma escrava […] sem controle, foi horrível” [94, pp. 75–76, p. 82]. A terapia eletroconvulsiva também já foi descrita por sobreviventes como lhes tendo feito “sentir como um animal” [93, p. 117], ou “sem valor”, uma “não-pessoa e não importava o que acontecia comigo” [94, p. 76], além de confirmar que elas eram “loucas” ou “insanas”. O medo da terapia eletroconvulsiva é palpável nesses relatos, parcialmente resultante de ver os efeitos em outras pessoas. Conforme uma mulher disse:
Quando você já esteve naquela ala havia outras pessoas que haviam passado pela terapia eletroconvulsiva e todas as outras pessoas tinham medo disso […] você as veria depois quando elas não conseguiam lembrar quem elas eram e estavam muito confusas e tinham dores de cabeça terríveis e não eram elas mesmas nem de longe.
Outras tinham medo por conta de suas próprias experiências: “eu pensei, talvez na segunda vez vai ser muito mais fácil e eu não vou me sentir tão assustada e aterrorizada, mas foi a mesma coisa, se não pior” [94, p. 75]. Mary Jane Ward, em sua novela autobiográfica The Snake Pit (1946), não deixa sobrar espaço para ambiguidades em seu relato de sua experiência com terapia eletroconvulsiva:
Eles colocaram um calço por baixo das costas dela. Foi desconfortável demais. Forçou suas costas a uma posição inatural. Ela olhou para o olho de vidro embaçado na parede e ela sabia que logo ele brilharia e que ela não veria o brilho. Eles iam eletrocutá-la, não operar sobre ela. Mesmo agora a mulher estava aplicando um tipo de pasta de cheiro podre em suas têmporas. O que você tinha feito? Você não teria matado ninguém e que outro crime há por aí que exige penalidade tão severa? […] Agora a mulher está colocando ganchos em sua cabeça, nas têmporas besuntadas de pasta e aqui vem outra, outra mulher vestida de enfermeira e ela se debruçou sobre seus pés como se em um minuto você pudesse se levantar da mesa e chutar o teto. Suas mãos estão amarradas, suas pernas contidas. Três contra uma e essa uma enredada em fios e maquinário. Ela abriu sua boca para chamar por um advogado e a mulher tola introduziu um mordedor para dentro e disse, “obrigada, querida”, e o demônio forasteiro com o sorriso angelical e a linda voz deu um aceno com a cabeça conspiratório. Logo acabaria. De certa forma você estava feliz. [95, pp. 68–69]
Ainda que a Organização Mundial de Saúde recomende que a terapia eletroconvulsiva seja oferecida apenas se voluntária [96], muitas mulheres ainda enfrentam terapia eletroconvulsiva forçada, como evidenciado pelo caso de Simone D., cujo advogado sem sucesso desafiou o direito do hospital psiquiátrico de Creedmore no estado de Nova Iorque a administrar 30 tratamentos de choque de “manutenção” em 2007, em acréscimo aos 200 que ela já havia recebido previamente [97]. Alternativamente, mulheres são ameaçadas com encarceramento psiquiátrico continuado [p. ex., 98], com tratamentos forçados, ou com penalidades como, por exemplo, perder a guarda de suas crianças, se não concordarem com a terapia eletroconvulsiva. Conforme uma mulher disse para Lucy Johnstone:
Eles me perguntaram se eu concordaria, mas eles também disseram que se eu recusasse eles iriam adiante de qualquer forma […] ser forçada a ficar lá é ruim o suficiente, mas ser forçada a fazer algo que você não quer é dez vezes pior, então eu concordei, sim [94, p. 74].
Outra mulher disse à UK Advocacy Network: “Me disseram que minha filha bebê seria colocada em lares adotivos se eu não fizesse terapia eletroconvulsiva (mesmo que meu marido pudesse ter cuidado dela)” (99, p. 37). Para mulheres que passaram por abuso sexual na infância — que se estima que sejam mais de 50% das pacientes internadas [100] — a terapia eletroconvulsiva pode ser vivenciada como uma repetição do abuso. Como uma mulher entrevistada por Johnstone comentou: “Eu pensei sim sobre isso algumas vezes durante a terapia eletroconvulsiva, que isso era uma forma de abuso, ser colocada lá quando você não quer, ou mais ou menos te dizerem que você tem que ter” [94, p. 77].
Já que os benefícios da terapia eletroconvulsiva são altamente questionáveis — há evidências de que ela não é mais eficaz do que placebo em aliviar nem depressão [101] nem risco de suicídio [102] — , há pouca justificativa para sujeitar à força mulheres a essa forma de tratamento. Citando pesquisas experimentais, Bonnie Burstow argumenta que a terapia eletroconvulsiva causa danos cerebrais, especificamente atrofia do lobo frontal, que leva à perda de memória e à debilitação intelectual [93; 103]. Nas entrevistas de Lucy Johnstone com sobreviventes da terapia eletroconvulsiva, os relatos de mulheres dessa terapia confirmam esse quadro [94, pp. 77–78], histórias de esquecer pessoas que elas conhecem, as infâncias de suas crianças, ou dificuldades de compreensão de livros ou da televisão:
Minha memória é péssima, simplesmente péssima. Eu não consigo me lembrar dos primeiros passos de Sarah, e isso machuca muito […] perder as lembranças do crescimento das crianças foi horrível.
Eu posso estar lendo uma revista e eu chego à metade ou quase ao fim e eu não consigo me lembrar sobre o que é, então eu tenho que ler tudo de novo. Mesma coisa com um filme ou programa na TV.
Pessoas que me conheciam me abordavam na rua e me contavam como elas me conheciam e eu não tinha lembrança nenhuma delas […] muito assustador.
É um vazio, eu não consigo descrever, e também tem uma sensação de algo essencial que eu nem sei o que está faltando […] é como uma parte intrínseca de mim que eu sinto que não está lá e que já esteve. […] Parte de mim sente que houve uma morte real de algo, algo morreu durante aquela época.
Minhas próprias lembranças da terapia eletroconvulsiva da minha mãe são de sua completa perda de memória de curto prazo, assim como uma mudança drástica de personalidade, acompanhada pelo medo de choques futuros que faziam com que ela desesperadamente tentasse fingir que estava feliz, quando ela claramente não estava. Esses efeitos são reconhecidos por psiquiatras como Abraham Meyerson, que os enxerga como “um fator importante no processo de cura” [93, p. 116]. Isso é parcialmente porque a terapia eletroconvulsiva produz pacientes aquiescentes, que são, nas palavras de Jonas Robitscher, “fáceis de administrar, dormem muito, [e] não precisam de muito cuidado de enfermaria” [89, p. 298; 104]. Mas também é porque a terapia eletroconvulsiva objetiva restaurar mulheres para o funcionamento marital “normal”, em que a resistência anterior ao papel feminino arquetípico é literalmente esquecida. Isso é ilustrado pelo caso de Wendy Funk, que recebeu terapia eletroconvulsiva durante sua estadia em uma ala trancada em 1989, sob ameaça de ser mandada para longe se recusasse, com seu “problema” sendo identificado por seu psiquiatra como “pensamento de tipo feminista” e ser resistente ao controle por seu marido [105]. A amnésia profunda que resultou de seu tratamento encorajou a prescrição de mais sessões de terapia eletroconvulsiva, com Wendy ouvindo que era “pelo bem de sua família”, porque “fazer” seu marido se preocupar “não era uma coisa boa pra uma esposa fazer” [93, p. 119]. O marido de Wendy, Dan, apoiava seu tratamento, como vários dos parentes de mulheres sobreviventes de terapia eletroconvulsiva entrevistadas por Carol Warren. Por exemplo, o sr. Karr sentia que era “por bem” que sua esposa “não conseguia se lembrar de nada” quando ela “não era ela mesma” de antes de sua admissão hospitalar, tendo ficado particularmente satisfeito que a terapia eletroconvulsiva tinha “feito sua esposa esquecer suas explosões hostis para com ele” [89, p. 294]. Outras mulheres são silenciadas por medo de mais choques: Mary Yale disse que ela tinha um “pavor tão grande de choque” que ela não mais expressava seus sentimentos para seu marido, acrescentando que “o tratamento de choque é um baita de um jeito para tratar problemas maritais — os problemas envolviam nós dois” [89, p. 298]. Similarmente, uma mulher (entrevistada por Lucy Johnstone), que estava se sentindo suicida à época, não discutia seus sentimentos com a enfermeira psiquiátrica da clínica da comunidade porque ela anteriormente havia vivenciado terapia eletroconvulsiva forçada, e não queria que essa experiência se repetisse. Ela comentou: “Foi uma lição útil, na verdade. Não é sensível nesse mundo falar para psiquiatras de seus, como eles chamam, ‘sistemas ilusórios’, e de fato eu nunca lhes falei mais nenhum” [94, p. 79].

Algumas mulheres abraçaram esses efeitos colaterais da terapia eletroconvulsiva, citando o esquecimento, ou sentir-se como uma nova pessoa, como benefícios do tratamento. Assim Shirley Arlen (entrevistada por Carol Warren) disse:
Eu acho que os tratamentos de choque têm a intenção de te fazer esquecer — quando você surta ou o que quer que seja que você faz pra entrar aqui [hospital psiquiátrico] […] Quero dizer, funcionou comigo — eu não consigo me lembrar de muita coisa — mas eu prefiro não lembrar. [89, p. 289]
Joan Baker descreveu a si mesma como “uma pessoa diferente” porque ela podia esquecer sobre seu pai não gostar dela quando criança [89, p. 289], o que foi semelhante ao comentário de uma das entrevistadas de Johnstone, que disse:
Eu senti como se eu tivesse me tornado uma pessoa completamente diferente […] Eu senti como se eu tivesse perdido totalmente a cabeça […] Eu acho que a terapia eletroconvulsiva me jogou nessa outra realidade […] Eu senti que eu havia perdido a pessoa que eu costumava ser […] antes de eu receber a terapia eletroconvulsiva, tudo aquilo desapareceu por completo [94, p. 78].
Inversamente, Rachel Perkins descreveu “deleite em ser ‘eu’ de novo” depois de seis sessões de terapia eletroconvulsiva [106, p. 625], lidando com a perda de memória anotando as coisas. Algumas mulheres queriam esses efeitos e lamentavam não os ter conquistados, como Rita Vick, que disse a Carol Warren: “Eu pensei que os tratamentos de choque ajudariam […] eles me fizeram esquecer algumas coisas, mas não o suficiente. Eu não tive o suficiente, acho” [89, p. 290]. Esses posam como exemplos de mulheres apagadas ou refeitas pela terapia eletroconvulsiva, com o objetivo de fazê-las “sãs”. Lendo esses relatos, é difícil discordar da conclusão de Bonnie Burstow de que a terapia eletroconvulsiva funciona como “um método formidável e compreensível de controle social” de mulheres [93, p. 118]. Entretanto, a realidade para a maioria das mulheres que buscam ajuda profissional para depressão (ou para uma gama de “sintomas” psicológicos não-específicos) é uma prescrição para medicação psicotrópica. Quando olhamos para propagandas e representações midiáticas contemporâneas de drogas psicotrópicas, e os mitos de loucura que elas perpetuam, não é difícil entender por quê.
4.2 Medicando a loucura das mulheres
Uma propaganda de Valium [diazepam] de 1970 nos Arquivos de Psiquiatria Geral diz:
Jan, 35, solteira e psiconeurótica Você provavelmente vê muitas do tipo de Jan em sua prática. As não casadas com baixa autoestima. Jan nunca encontrou um homem que chegasse à altura de seu pai. Agora ela percebe que ela está numa posição derrotada — e que talvez ela nunca se case. Valium (Diazepam) pode ser pode ser um acessório útil na terapia da paciente tensa e sobre-ansiosa que tem um senso neurótico de fracasso, culpa, ou perda. [107, p. 148]

Mulheres têm predominado em anúncios de medicação psicotrópica, a um ponto que ultrapassa muito sua representação em estatísticas de saúde mental [107]. Por exemplo, nos anos 70, mulheres eram representadas como as usuárias dominantes de tranquilizantes, enquanto que anúncios para outras drogas retratavam um número igual de mulheres e homens, ou mais homens [108]. Similarmente, num estudo de anúncios de antidepressivos nos anos 80, descobriu-se que as mulheres superavam os homens como exemplos de “pacientes” em dez para um na revista American Family Physician, e em cinco para um na revista American Journal of Psychiatry [109]. Em todas essas imagens, mulheres são geralmente representadas como tendo sintomas emocionais difusos e fracas habilidades de enfrentamento, enquanto que os pacientes homens que aparecem são vistos como sofrendo de estresse temporário relacionado ao trabalho, com formas efetivas de enfrentamento à sua disposição [110]. Por exemplo, em um estudo que rastreava o (des)equilíbrio de gênero em anúncios de psicotrópicos ao longo de três décadas, reportando que a proporção de mulheres em anúncios havia aumentando entre 1981 e 2001, Sarah Munce e colegas descobriram que as mulheres eram retratadas como bem vestidas e atraentes, e posicionadas na casa, no jardim ou numa configuração social [111], enquanto homens eram retratados no trabalho [xiii]. Isso posiciona mulheres em um papel tradicional sexualizado, doméstico e dependente, enquanto homens são retratados como cidadãos produtivos e independentes que têm um status social maior — reforçando estereótipos de gênero tradicionais.

As formas como mulheres são retratadas em publicidades farmacêuticas têm mudado ao longo das décadas mais recentes, refletindo, até certo ponto, as mudanças nos papéis femininos trazidas pelo feminismo. Como Jonathan Metzl argumentou em seu livro Prozac on the couch [“Prozac no sofá”, em tradução livre, 107], anúncios para tranquilizantes nos anos 60 retratavam “maternismo psicofarmacológico” — uma dona-de-casa ansiosa e atormentada, sua aliança de casamento proeminentemente à mostra, que não consegue “funcionar” em “casa”, buscando o consolo de um médico. Nos anos 70, entretanto, quando o benzodiazepínico Valium se manteve como a droga mais bem vendida na história farmacêutica [xiv], imagens da própria droga haviam substituído o homem que medica, e a mulher “paciente” aparecia sozinha. Então um dos anúncios mais amplamente veiculados, citado no epígrafe a essa seção, retratava “Jan”, que tinha “35 anos” e era “solteira e psiconeurótica” porque ela “nunca encontrou um homem que chegasse à altura do seu pai” [107, p. 149]. Ainda que aparentemente contraditório, ambos os conjuntos de imagens representam a ameaça potencial à hetero-normatividade por mulheres “loucas”. A dona-de-casa ansiosa ameaça a felicidade e a coesão da família, ao mesmo tempo em que ela posa como uma crítica implícita à sua vida marital e familiar — sugerindo que talvez isso seja a causa de sua patologia [107, p. 141]. A Jan “solteira e psiconeurótica” parece estar rejeitando a família como um todo, por meio de ser tão exigente que ela não consegue achar um homem com quem se casar, o que não é simplesmente representado como a causa da doença, “mas como a doença em si” [107, p. 145].
Ambos conjuntos de anúncios prometem soluções químicas para as perturbações femininas, restaurando a ordem correta do “sistema de papéis masculino-feminino” [107, p. 145], por meio de relaxar o descontentamento das mulheres para possibilitar que elas sejam felizes no casamento ou na maternidade. Como os anúncios retratando a mulher pós-medicada declaram, “eu obtive meu casamento de volta”, “eu obtive minha leveza de volta”, “eu consegui mamãe de volta” [107, p. 155]. Hetero-normatividade restaurada. Essa representação de mulheres como loucas por conta de estarem infelizes no amor não é específica de propagandas de drogas psicotrópicas. Críticas literárias têm dissecado representações de mulheres loucas na literatura e na poesia do século XIX, concluindo que o motivo mais comum para loucura era deserção ou decepção amorosa [22, p. 113]. Essa narrativa apoia a percepção de feminilidade como uma condição lábil, reativa, e caracteristicamente instável, com as vidas e mentes de mulheres irrevocavelmente conectadas àquelas de homens. É o outro lado, menos importante, do “e foram felizes para sempre” em contos de fadas — a mulher levada ao desespero porque ela não encontrou seu homem.

O surgimento em 1987 da “droga maravilha” Prozac [fluoxetina], a marca mais largamente conhecida de ISRSs [Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina] comercializado pela empresa de fármacos Eli Lilly, mudou o foco de comercialização de psicotrópicos da ansiedade para a depressão, e retratava mulheres em situações refletindo nossa posição modificada na sociedade — menos da dona-de-casa ou solteirona de coração partido, e mais da mulher de carreira ou “mãe trabalhadora”. Também houve uma mudança para localizar o problema na biologia da mulher, espelhando desenvolvimentos na psiquiatria biológica na época. Por exemplo, num estudo que examinou anúncios de antidepressivos ISRSs no período entre 1985–2000, Jonathan Metzl e Joni Angel reportaram que houve uma mudança clara nos anos mais recentes em direção a posicionar as reações normativas de mulheres a eventos de vida associados a casamento, maternidade, menstruação ou menopausa como transtornos psiquiátricos que autorizam medicação ISRS, resultando em experiências emocionais como “estar arrebatada pela tristeza” ou “nunca se sentir feliz” sendo posicionada como depressão [1114]. Isso se põe em contraste com o posicionamento biomédico da depressão de homens como “uma doença com raízes bio-químicas” [114, p. 580], sugerindo que reações normais às vicissitudes da vida têm menos chances de serem patologizadas em homens. Um modelo específico de feminilidade idealizada está sendo promulgado nesses anúncios — uma mulher calma, enfrentando seus demônios, em controle — com desvios desse roteiro patologizados, e presumidamente necessitados de tratamento medicamentoso, já que o Prozac prometia restaurar os “Dias Produtivos” de uma mulher [114, p. 578].
A representação dos “problemas” das mulheres associados ao corpo reprodutivo, ou a seus maridos, como indicadores da necessidade de drogas psicotrópicas não é restrito a anúncios em revistas médicas; também ocorre na mídia de massa, incluindo jornais, revistas e boletins populares. Cosmopolitan celebrou as “novas pílulas para os nervos” do fim dos anos 50, nos dizendo que depois de tomar as drogas relaxantes “mulheres frígidas que abominavam relações maritais reportaram que respondiam mais prontamente às investidas de seus maridos” [115, citado por 107, p. 105]. Jonathan Metzl analisou artigos populares sobre depressão de 1985 a 200 [116]; ele concluiu que havia evidência de um fenômeno de diagnóstico com viés de gênero semelhante ao arraste fiscal, que acontece quando a renda das pessoas é corrigida de acordo com a inflação, mas as faixas de renda usadas para tributação, não, o que gera a impressão de mais pessoas pertencentes a uma classe de renda superior, sendo que, na verdade, estão sendo sobretaxadas — em saúde mental, o que ocorre é o alargamento de critérios específicos de gênero para a depressão que legitimizavam o uso de ISRSs para mulheres. Daí histórias na imprensa popular sobre ISRSs, particularmente o Prozac (fluoxetina), os representarem como um “medicamento para nossa época” (revista New Scientist) [117, p. 280], um medicamento milagroso, que pode ajudar mulheres a se sentirem “normais”, “pé no chão” e “mais do que bem” (Prozac Nation) [118, p. 356], fornecendo “ajuda química para ser uma supermãe” (revista Time) [117, p. 280]. Nos dizem que enquanto “70% das mulheres sofrem antes da menstruação”, Prozac pode ajudar a “deixar suas profissão e trabalho doméstico mais fácil de administrar” (revista Health) [117, p. 280]. A causa desses problemas é localizada firmemente na biologia, com explicações incluindo “sinapses mal-disparadas”, “circuitos desregulados” e “instintos neuronais” [117, p. 274]. Já que mulheres são descritas como vivenciando “sensibilidade reduzida” sob Prozac (revistas Newsweek, American Health, Time, Psychology Today) [117, p. 280], será que os ISRSs as deixam mais parecidas com as Mulheres Perfeitas? [n/t: no original a autora pergunta se os inibidores de serotonina deixam as mulheres mais parecidas com as “Stepford Wives”, personagens do thriller satírico literário de mesmo nome, lançado em 1972. A história gira em torno da cidade de Stepford, onde as esposas são submissas, aduladoras e sempre lindas, mas há algo de macabro sob essa perfeição. Em inglês, a expressão “Stepford Wife” se tornou sinônimo de mulher submissa, tradicional.]

A mulher apresentada em histórias sobre o Prozac (fluoxetina) é a antítese da dona de casa dependente e intimidada que foi encorajada a buscar a “ajudinha da mãe”, Valium (diazepam), nos anos 60 e 70. Tocando num discurso neoliberal pós-feminista de equidade, mulheres são representadas como capazes de trabalhar produtivamente ao lado de homens, desde que estejam libertas de flutuações hormonais ou de humor. Como Jonathan Metzl tem argumentado, ao invés de serem representadas por uma “Neely chapada em ‘O Vale das Bonecas’”, que não conseguia enfrentar as pressões de trabalhar num mundo de homens, o/a “herói(na) Prozac” se parece mais com “Rebecca Buck, vulgo Tank Girl, uma heroína destemida de aparência igualmente destemida, que usa um colar de drágeas de Prozac folheadas em prata” [118, p. 356]. Elogiada como um remédio “feminista” por seus apoiadores (financiados pela Eli Lilly), como Peter Kramer [119], nos dizem que o Prozac permite que mulheres sejam “hipertímicas” — ou, mais precisamente, hiper-produtivas de forma maníaca [118, p. 357]. Em sua análise de artigos populares sobre Prozac de 1987 a 2000, Linda Blum e Nena Stracuzzi descreveram a história publicada na Newsweek de Helen, uma típica heroína Prozac [117], que era uma executiva de relações públicas antigamente “paralisada” por “prazos iminentes”, mas que agora conseguia “fazer malabarismos com prioridades conflitantes […] de forma graciosa […] com uma personalidade mais leve” [117, p. 278]. A revista New Scientist é mais explícita, descrevendo Prozac como uma droga que ajuda mulheres a serem “ambiciosas, extrovertidas, proativas” para alcançarem “o sucesso que a sociedade agora espera delas” [117, p. 279]. Prozac então funciona para “normalizar o feminismo como supermulherismo” [120, p. 63]. Entretanto, ainda que a história pareça ser sobre sucesso e conquistas, a mensagem implícita é que mulheres precisam ajuda química para serem capazes de conquistar isso — como os homens que eram representados como falhando no trabalho nas propagandas de remédio dos anos 80, precisando de antidepressivos para mantê-los funcionando.
O sujeito feminino neoliberal produtivo representado em narrativas de Prozac (ao menos pós-tratamento) não somente é disciplinada em seu trabalho, mas também disciplinada em seu corpo. Blum e Stacuzzi descobriram que Prozac era frequentemente ligado à perda de peso, com relatórios de que é usado por “dieteiras” [quem faz dieta] (Business Week), com uma raxa de sucesso que lhe dava o “status de culto” (New York Times). Numa linha semelhante, as histórias de sucesso do Prozac descrevem mulheres como “jovens coisas gostosas” ou como “firme”, “em boa forma” e “esguia” [117, p. 276]. Os ideais de vigilância e de regulação do corpo que constituem o sujeito feminino ideal então são ressuscitados e reforçados [121], e mulheres são encorajadas a se voltarem para ISRSs em suas tentativas de alcançar esses ideais quase impossíveis. Isso, de novo, é uma versão heteronormativa da mulheridade; mulheres prosperando no mercado de trabalho heterossexual pós-medicação. Uma das personagens do best seller (e financiado pela Eli Lilly) de Peter Kramer, Listening to Prozac [“Ouvindo o Prozac”, tradução livre] [119], que é descrita em muitos artigos de revista, é Tess, que era “solitária e exausta” antes do Prozac, mas é agora “mais legal de forma geral”, e como resultado está namorando (homens) [117, p. 280], reminiscente da Jan da propaganda da Valium de 1970.
Semelhantemente, numa análise das heroínas Prozac em ficções populares e livros de autoajuda, Metzl concluiu que Prozac é descrito como um “agente restaurando a normalização e a estabilidade heterossexual” [118, p. 360]. Daí uma personagem, Julia, descreve insatisfação marital que desaparece depois do tratamento; Anne voltou com seu namorado e agora está alegremente casada; e Elizabeth Wurtzel escreve em seu relato autobiográfico Prozac Nation [lançado em português com o subtítulo Jovem e deprimida na América; memórias] sobre “encontrar o verdadeiro amor”. Isso é reminiscente de comentários feitos anteriormente sobre a “histeria” feminina: a crença de Platão de que o sexo heterossexual e a gravidez curariam os sintomas de uma mulher; ou comentários feitos por Elizabeth Zetzel, tratando mulheres em Boston no meio dos anos 40, de que “histéricas boas de verdade” tinham invariavelmente “falhado em conquistar um relacionamento heterossexual maduro” [122, p. 327].
Praticantes de medicina pegam esse manto medicalizado e advogam pela medicação psicotrópica como solução para a miséria das mulheres, uma recomendação que frequentemente é difícil de resistir. Como Daphne Gottlieb descreveu em seu relato autobiográfico Lady Lazarus: Uncoupleting suicide and poetry [Dama Lázaro: desacoplando suicídio e poesia, em tradução livre]:
A médica me disse que era a melhor opção: medicação. Tinha uma pílula, ela disse, e a pílula ajudaria. Talvez eu não queira morrer a cada segundo. Eu não me sentiria cozinhando em minha pele a todo momento. […] Eu faria qualquer coisa para não sentir mais dor. É por isso que eu estava no consultório dela. [123, p. 27]
Entretanto, drogas psicotrópicas não são universalmente adotadas por mulheres, apesar da mensagem promulgada em campanhas de marketing ou consultas médicas. Para mulheres que inicialmente aceitam uma prescrição, frequentemente por conta de sintomas de desespero descritos por Gottlieb [123], acima, sair das drogas é raramente fácil, por conta de ambas dependências física e psicológica. Aqui estão comentários de mulheres entrevistadas por Elizabeth Ettore e Elianne Riska [2, p. 136], atestando como as mulheres ficam entre a cruz e a espada relativamente ao uso dessas drogas:
Eu tenho medo das pílulas e gostaria de parar mas não posso, então eu fico presa de forma que […] eu tenho […] medo de ficar dependente (professora de 57 anos)
Eu ficaria feliz em parar [de usar os remédios] porque eu tenho medo de seus efeitos (costureira de 59 anos)
A sensação é terrível, de fato, mas eu estou… você fica viciada a elas [essas drogas] em algum nível. Minha autoestima fica bem alta se eu consigo ficar sem elas por algum tempo (faxineira de meio período de 33 anos)
Os sites promovendo antidepressivos não fornecem informação sobre superar o rebote psicológico ou físico, sobre formas de parar o tratamento com segurança, ou sobre por quanto tempo tais medidas devem ser tomadas. Por que deveriam? Seu objetivo é aumentar a cota de mercado para seu produto específico, não ajudar os clientes a parar de tomá-lo. É sob essa luz que deveríamos ver todo e qualquer material promulgado pela indústria farmacêutica [Big Pharma] — o lucro é a palavra final, não o cuidado com pacientes, que nunca foi mais transparente do que na discussão de outro tratamento maravilha: a terapia de reposição hormonal.
4.3 Medicalizando a menopausa: a promoção de terapias de reposição hormonal
Em 1998, Jaquelyn Zita escreve:
O pesadelo é real. É possível antever um mundo onde se espera que mulheres disciplinem seus corpos e modifiquem suas personalidades para serem “tchutchucas de primeiro mundo” premium, energeticamente autoinjetadas dentro do corporativismo capitalista-intensivo e dos mercados de capital cada vez mais hipersexualizados de uma economia supremacista masculina e transnacional em expansão. [120, p. 70]
Medicações psicotrópicas não são os únicos tratamentos medicalizados recomendados pela Big Pharma e suas aliadas como tratamentos para os problemas das mulheres. Como o corpo reprodutivo é considerado por muitos como central à depressão e à disfunção das mulheres, não é surpreendente que intervenções hormonais também sejam fortemente defendidas como curas químicas. Este é particularmente o caso com a menopausa, onde a terapia de reposição hormonal (TRH) é uma indústria multibilionária, apesar de evidências recentes das consequências negativas da TRH para a saúde das mulheres. Ainda que o ventre tenha sido colocado no centro da loucura das mulheres por séculos, com a menopausa em particular sendo considerada a causa de “quase todas as doenças de que a carne é herdeira”, nas palavras de um médico do século XIX [14, p. 191], o ginecologista Robert Wilson foi o primeiro a normalizar a prática de uma meia-idade medicamente administrada para todas as mulheres. Seu livro altamente influente Feminine forever [“Feminina para sempre”, em tradução livre, 1966], descrevia a menopausa como uma doença de deficiência que poderia ser melhorada por reposição hormonal, resultando no quadruplicamento de vendas de TRH nos anos depois de sua publicação. Não é coincidência nenhuma que o livro de Wilson e tours de palestras tenham sido pagas pela empresa farmacêutica Wyeth Ayerst, que produz TRH [124]. Wilson descreveu a menopausa como uma “viva decadência”, manifesta pelo “desgaste dos ossos, corcunda de viúva, contornos corporais feios, flacidez dos seios, e atrofia dos genitais” [125, p. 192], acompanhada por “desânimo, tristeza ou prostração” [126, p. 36]. Essa visão é perpetuada hoje, como evidenciada nessa citação do livreto de autoajuda voltado para mulheres You and your menopause [Você e sua menopausa, em tradução livre] (publicado em 2002):
Para uma em quatro mulheres a menopausa é apenas uma ondulação na superfície de suas vidas. Os sintomas não as incomodam e ela não causa nenhuma introspecção. Mas uma proporção similar de mulheres podem sofrer de um turbilhão psicológico e físico que faz desse período uma passagem turbulenta. [127, p. 443, minha ênfase]
Onde a TRH se diferencia da medicação psicotrópica é que ela é frequentemente oferecida como profilática — criando um mercado potencial em massa de todas as mulheres em menopausa. Robert Wilson foi o primeiro a defender a TRH como “prevenção de menopausa” [126, p. 19], dizendo a mulheres que “ao invés de estarem condenadas a testemunhar a morte de sua própria mulheridade”, elas podem “permanecer totalmente femininas — fisicamente e mentalmente — enquanto viverem” [126, pp. 16, 19]. Mulheres que resistem a essa medicalização têm sido avisadas dos perigos que estão cortejando se elas posicionarem a menopausa como “só mais um evento fisiológico no ciclo de reprodução feminina, e não buscarem ajuda médica”, porque “até a ‘menopausa assintomática’ pode iniciar sequelas silenciosas, progressivas, e, no final das contas, letais” [128, p. 2]. TRH era então defendida como um tratamento universal para mulheres em meia-idade, com experts proclamando: “agora parece razoável recomendar que todas as mulheres que já passaram pela menopausa — independentemente de idade ou de sintomas de menopausa — seriamente sejam consideradas para terapia de reposição hormonal” [129, p. 67]. E se mulheres não estivessem vivenciando “um turbilhão psicológico ou físico”, elas ainda poderiam ser persuadidas a fazer TRH por conta de sua representação como um elixir antienvelhecimento ou tratamento de beleza, como evidenciado por Lauren Hutton, a supermodelo que aparece nos anúncios de TRH da empresa Wyeth, dizendo para a revista Parade que estrogênio é “bom para seu humor, é bom para sua pele” [130]. Também é supostamente bom para sua vida sexual. A política britânica Teresa Gorman tem sido há bastante tempo uma defensora declarada da TRH, alegando:
Meu marido acha ótimo. Até que você faça 50 anos ele te persegue pelo quarto mas depois da TRH você o está perseguindo. TRH te mantém fora do hospital, fora de uma casa de velhos, e fora das varas de divórcio. [131]
A indústria multibilionária de TRH admoesta mulheres para que façam tudo em seu poder para resistirem ao declínio hormonal e à atrofia — e à “instabilidade de humor” da menopausa. Como um guia de saúde patrocinado pela empresa farmacêutica Hoechst Roussel avisa: “Mudanças de humor […] respondem bem à terapia de reposição hormonal e você deveria falar com seu médico sobre o leque de tratamentos disponíveis” [127, p. 427]. Propagandas de TRH publicadas em revistas médicas continuam a reforçar a visão do corpo em menopausa incompleto ou deficiente, com mulheres em meia idade representadas como “fora de controle”, “grotescas”, ou estressadas e confusas [132]. Por exemplo, um anúncio de Premarin no Australian Medical Journal alerta em letras grandes em negrito: “Nesse ano, quase 80.000 mulheres conhecerão depressão, ansiedade, ondas de calor, sudorese noturna, e problemas vaginas”. Em letras pequenas, o texto continua: “Sem mencionar o risco aumentado de osteoporose e doenças cardiovasculares, dentre outras coisas. A condição, é claro, é a menopausa” [133, p. 131].
A principal pesquisa de Wilson, na qual ele baseou seu livro Feminine forever (1966), foi um estudo sem grupo de controle de 304 mulheres, de idades entre 40 a 70 anos, fazendo TRH, publicado na revista Journal of the American Medical Association em 1962. Foi com base em estudos observacionais não-randomizados semelhantes que a TRH foi promovida como droga para reduzir o risco de doenças cardíacas e osteoporose. De fato, a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos [n/t: a FDA é uma agência federal, de natureza regulatória, do departamento de saúde e serviços humanos do governos dos EUA] estava tão confiante que um comitê de aconselhamento recomendou que testes controlados randomizados não eram necessários [134]. Quando o FDA voltou atrás dessa decisão, após pressão da National Women’s Health Network [Rede Nacional de Saúde das Mulheres], os resultados nos forçaram à sobriedade. Testes em larga escala controlados e randomizados de TRH conduzidos no Reino Unido [135] e nos Estados Unidos [136] descobriram que enquanto a TRH pode reduzir fraturas ósseas e câncer colo-retal, assim como ondas de calor nas 25% de mulheres que sofrem disso mais severamente [137], também significativamente aumenta o risco de câncer de mama (em 26%), doenças cardiovasculares (em 29%) e derrames (em 41%). Pesquisas no Reino Unido que foram adiante demonstraram uma conexão entre TRH e câncer ovariano [138]. As descobertas dos testes da Women’s Health Initiative (WHI) [Iniciativa de Saúde das Mulheres, em tradução livre], conduzido com 160.000 mulheres estadunidenses, foram tão arrebatadoras que os testes foram interrompidos três anos antes do previsto, para prevenir mais consequências de saúde negativas (incluindo morte) no grupo fazendo TRH).
Não surpreendentemente, as empresas produtoras de remédios, e muitas pessoas na profissão médica, não aceitaram essas descobertas sem questionar. O New York Times reportou que imediatamente depois da divulgação das descobertas da WHI [139], Wyeth, a empresa farmacêutica que fornecia as drogas usadas no teste, mandou 500.000 cartas de “Caro Doutor” enfatizando os benefícios sintomáticos da TRH [140]. Publicações subsequentes em revistas médicas focaram em criticar pontos minoritários da metodologia dos testes de TRH, numa tentativa de promover os benefícios da TRH [p. ex., 141, 142], e representantes médicos continuaram a recomendar a TRH como tratamento generalizado para mulheres [p. ex. 143, 144]. David Sackett comentou sardonicamente que não deveríamos culpar as empresas farmacêuticas por seu comportamento inescrupuloso em promover a TRH [140], já que elas estavam simplesmente se comportando como uma indústria modelo faria ao tentar aumentar a cota de mercado e o lucro para seus acionistas [xv]. Vai ser interessante ver se isso vai continuar após o julgamento de 2009 na Filadélfia que determinou que a Pfizer (que comprou a Wyeth em 2003) pagasse US$113 milhões em indenização para duas mulheres que contraíram câncer de mama após a TRH [145]. Como o mercado para TRH era de mais de US$1.4 bilhões em 2008 [145], os lucros ainda largamente superam os danos financeiros, então esse caso judicial talvez tenha pouco impacto, a menos que abra os portões para litígios futuros generalizados. O fato de que empresas farmacêuticas, e seus aliados, continuem a promover a TRH quando os danos à saúde das mulheres são incontroversos é inexcusável. Existe alguma droga que seria promovida a homens se tivesse as mesmas consequências de saúde? É difícil não concluir que uma misoginia profundamente enraizada escora ambas a Big Pharma e muito da biopsiquiatria. Que outra explicação podemos dar para explicar esse assustador estado das coisas?
5 Terapia como tirania
Vivien Burr e Trevor Butt escrevem:
A “descoberta” e o isolamento de síndromes e patologias — e a provisão de terapia e aconselhamento como resposta — é a fase mais recente em um longo processo do desenvolvimento do poder disciplinatório em sociedades ocidentais que tem acontecido desde o século XVIII. A prática da confissão tem sido passada para os especialistas e profissionais — psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, conselheiros, dentre outros — que são ensinados a serem os mentores apropriados de nosso bem-estar psicológico. [146, p. 192]
Intervenções psicológicas e psicoterapêuticas podem parecer ser uma alternativa positiva a modos biomédicos e psiquiátricos de conceituar e tratar a loucura das mulheres. De fato, a terapia é abraçada por várias mulheres (incluindo muitas feministas), como delineado no capítulo 6. Entretanto, a terapia não escapou ao escrutínio feminista. Mary Daly descreveu terapia como “estupro da mente” [147, p. 287], e a comparou com a prática chinesa de amarra dos pés, com a caça às bruxas, com a prática hindu do suttee [n/t, sati, prática em que a esposa viúva era obrigada por lei a se sacrificar na fogueira da pira funerária de seu marido morto] [xvi], e escravidão sexual. Lenora Fulani argumentou que “o tratamento de saúde mental tradicional tem feito pouco além de fornecer um rótulo para mulheres emocionalmente perturbadas, frequentemente acrescentando mais peso às suas dificuldades sem plano nenhum de empoderamento” [148, p. xiii]. Phyllis Chesler argumentou que “a instituição da terapia particular é uma instituição patriarcal” [149, p. 166]. Ela comparou a terapia ao casamento, no sentido de que envolve um relacionamento desigual, serve para isolar mulheres umas das outras, enfatiza a dependência da mulher em uma figura masculina mais forte de autoridade, e possibilita que mulheres diluam sua raiva ao expressá-la como sintomas emocionais, que então são rotulados como “neuróticos”. Ambos o casamento e a terapia são condenados por encorajar mulheres a falar, ao invés de agir, e por servirem para suprimir a raiva justa das mulheres. Chesler também documentou o abuso sexual de generalizado de pacientes mulheres por seus (principalmente homens) terapeutas, além das consequências devastadoras para essas mulheres, que foram violadas quando estão em seu momento mais vulnerável. Pesquisas mais recentes reportaram que entre 4 e 12% de homens terapeutas admitiram ter feito sexo com pelo menos uma cliente, demonstrando que isso ainda é um problema significativo [150].
Ao mesmo tempo, teorias psicológicas que sustentam a terapia têm sido repudiadas por feministas por serem supergeneralizadas e supersimplificadas [151, p. 298], ou por serem baseadas numa epistemologia positivista que coloca as perturbações das mulheres como sintomas de um transtorno subjacente [152, p. 83]. De fato, críticas feministas têm argumentado que ambas as teorias biomédicas e psicológicas da depressão descontextualizam o que frequentemente é um problema social, simplesmente agindo para legitimar intervenção de especialistas, simultaneamente negando os aspectos discursivos, econômicos e políticos das experiências das mulheres [6; 153–154]. E ainda que a terapia cognitivo-comportamental (TCC) seja agora recomendada por muitos governos (incluindo a Austrália e o Reino Unido) como um tratamento de primeira linha para depressão [155], críticas feministas têm argumentado que há pouca evidência de diferenças de gênero na maioria dos “déficits” cognitivos que supostamente estão por trás da depressão de uma perspectiva cognitivo-comportamental, o que mina a utilidade de tais teorias para explicar a taxa mais alta de depressão noticiada por mulheres. [156–157]
Uma das primeiras críticas feministas da terapia psicológica é que o problema, assim como a solução para a perturbação, está localizado unicamente na mulher. Como Rachel Perkins, criticando a terapia para lésbicas, argumentou:
Infelicidade compreensível é tornada pessoal, privada, e patológica. A indivídua lésbica se torna isolada e sozinha em sua angústia. Algo deu errado com ela e não há lugar nenhum para buscar ajuda e apoio além de seu terapeuta. A infelicidade se torna um problema individual que a pessoa individual deve resolver, ao invés de um evento compartilhado do qual nossas comunidades devem tratar, aceitar, e acomodar. [158, p. 327]

Além de ignorar o contexto social, a terapia psicológica é criticada por encorajar mulheres a engatarem em estratégias de autogerenciamento que funcionam como autopolicialmento [159], servindo para manter o status quo e produzir cidadãos mais produtivos [160]. Essa última parte é evidenciada pelo relatório Layard de 2006 [161], publicado no Reino Unido, que recomendava a instalação de centros de terapia pela nação toda, oferecendo terapia cognitivo-comportamental para garantir que pessoas perturbadas permanecessem na força de trabalho, ou voltassem ao trabalho, com a justificativa de que “depressão e ansiedade fazem com que seja difícil ou impossível trabalhar, e levam pessoas a conseguir auxílios doença” [161, p. 1]. Preocupações neoliberais foram claramente um motivador primário no relatório — em vez do bem-estar de pessoas que vivenciam transtornos, ou suas famílias.
Psiquiatras e outros profissionais de saúde que fazem diagnósticos e oferecem terapia psicológica não operam num vácuo cultural. A construção discursiva da infelicidade das mulheres como a categoria diagnóstica “depressão” em políticas de saúde [159], revistas médicas [162], livros de autoajuda [163–164], literatura de empresas farmacêuticas [111; 114], revistas voltadas para mulheres [159] e outras literaturas que circulam em massa [117] também tem sido criticada por desempenhar um papel significativo nas aflições de mulheres sendo catalogada como uma patologia, com mulheres sendo colocadas como loucas como resultado. Em cada um desses contextos, a “verdade” da maior propensão de mulheres à depressão é repetida como um fato indubitado, como ilustrado por um panfleto de autoajuda do Instituto Nacional de Saúde Mental [165], intitulado “Mulheres e depressão: descobrindo esperança” (2008): “A depressão afeta ambos homens e mulheres, mas mais mulheres do que homens têm probabilidade de serem diagnosticadas com depressão em qualquer momento” [165, p. 2]. Mulheres são encorajadas a adotar um discurso biomédico como explicação para seus momentos de tristeza, como ilustrado por um panfleto de autoajuda mais antigo do Instituto Nacional de Saúde Mental, “Depressão: o que toda mulher deveria saber” (2000), citado abaixo:
A vida é cheia de altos e baixos emocionais. Mas quando os momentos “baixos” duram muito ou interferem com sua habilidade de ser funcional, talvez você esteja sofrendo de uma doença séria e comum — depressão. No entanto, uma vez que ela frequentemente não é reconhecida, a depressão continua a causar sofrimento desnecessário. [166]
Nesse panfleto, mulheres são retratadas como emocionais por natureza, resultando em seu diagnóstico como deprimidas como mais difícil de reconhecer. De fato, nos dizem que “parece quase como uma expansão natural de suas personalidades” [166, p. 113]. Mulheres, então, são encorajadas a serem vigilantes poro sinais dessa doença insidiosa — a engajar em autovigilância, e, subsequentemente, em autopoliciamento, por meio de se apresentar a um médico para uma “avaliação diagnóstica completa”, ou para engatar em autogerenciamento, em que se espera que elas “tirem elas mesmas para fora da” depressão [167].
6 Autogestão da loucura: a promoção do autopoliciamento
Nikolas Rose escreve:
No século XIX a psicologia inventou o indivíduo normal […] Inventou o que alguém poderia chamar de terapias da normalidade ou de psicologias da vida cotidiana, pedagogias da autorrealização disseminadas por meio da mídia de massa, que traduzem os desejos enigmáticos e as insatisfações do indivíduo em formas precisas de inspecionar a si mesmo e trabalhar em si mesmo ou para perceber o próprio potencial, conquistar a felicidade, e exercitar a própria autonomia. [168, p. 17]
Modelos biomédicos não estão sozinhos em representações populares da loucura das mulheres. Existe um discurso alternativo de “autogerenciamento” que localiza a solução de problemas como “depressão” dentro da mulher. Num estudo de representações da depressão em revistas australianas populares de mulheres, de 1998 a 2002, Susan Gattuso e colegas descobriram que a representação mais comum de depressão era de uma reação a eventos da vida ou de problemas no relacionamento, com estratégias de autogerenciamento, seguidas por apoio da família e amigos, sendo as soluções mais comumente defendidas [159]. As estratégias sugeridas incluíam ler livros de autoajuda, meditação, autossuficiência, buscar apoio de amigos e familiares, assim como remédios de lazer e de estilo de vida. Apesar de a depressão ter sido predominantemente posicionada como uma “doença”, tratamentos medicamentosos eram majoritariamente sugeridos como secundários a outras estratégias de enfrentamento, como “uma forma de aconselhamento chamada terapia cognitivo-comportamental, que te ensina a ter uma atitude mais realista perante você mesma e acontecimentos da sua vida” (revista Australian Women’s Weekly) [159, p. 1645]. De forma similar, o jornal britânico Daily Mail encorajava mulheres “com trabalhos frenéticos […] [que] frequentemente são as mais em negação sobre o estresse em suas vidas” a engatar em “simples terapias de fala […] desenhadas para dar mulheres um melhor senso de perspectiva e um autovalor aprimorado para ajudar a cortar níveis de estresse” [169, p. 41].
Na superfície, isso pode parecer positivo: mulheres não estão sendo encorajadas a medicar elas mesmas em direção ao esquecimento, e recebem um senso de agência sobre sua “miséria sem nome”. Entretanto, em comum com a maioria da literatura de consumidores sobre depressão [164], esses relatos completamente ignoram explicações socioculturais para a angústia das mulheres, localizando o problema exclusivamente interiormente. As estratégias de “autogerenciamento” que mulheres são encorajadas a abraçar também são implicitamente sobre autopoliciamento e autorregulação. Diz-se às mulheres para engajar em autovigilância, e para diagnosticar “depressão”, mesmo quando elas achavam que estavam só “tristes”. Como o seguinte extrato da amplamente circulada, e autoritária, Australian Women’s Weekly (Novembro de 2001) diz:
Você Está Secretamente Triste? Se você não consegue se lembrar da última vez que você sentiu alguma coisa além de tristeza, você pode estar sofrendo de uma das formas menos diagnosticadas de depressão em que a tristeza crônica parece “normal” […] Para um número cada vez maior de Australianas, o blues é uma forma de vida em vez de um soluço ocasional. [159, p. 1642]
Como pesquisas nos dizem que crescentes números de mulheres australianas se sentem “estressadas”, “sem tempo”, com consequências negativas para relacionamentos e sentimentos de bem-estar [170], há pouca razão para pensar que números significativos de mulheres lendo essa revista parariam para pensar e decidir que elas mereciam um diagnóstico de depressão. Dada a mensagem implícita de “supere isso” (ou melhor, “faça com que você supere isso”) que acompanha a exorbitação para se autodiagnosticar, essas mesmas mulheres provavelmente se sentirão responsáveis por seus “blues”, já que lhes dizem firmemente que elas têm o caminho para a felicidade à sua disposição, elas só têm que administrar seu humor (ou vida) de forma mais eficaz. Como Dana Becker argumenta, “a cura de repouso do século XIX foi suplantada por velas aromáticas e tapetes de yoga de cor pastel” [169, p. 39]. Quando as mulheres não conseguem simplesmente reduzir seu “estresse” ou “depressão”, isso pode resultar em sentimentos de inadequação, vergonha e auto-culpabilização, que podem fazer com que mulheres vão correndo a especialistas biomédicos, que prometem uma simples cura milagrosa induzida por remédios, já que isso coloca qualquer controle por angústias emocionais fora da mulher [159].
Semelhantemente, livros de “autoajuda” reforçam a mensagem da menopausa como uma doença de deficiência, com as experiências de meia idade de mulheres colocadas como “sintomas”, e mulheres colocadas como “pacientes” [171]. A menopausa pode ser descrita como um “processo natural” nesses contextos, com remédios “alternativos” sugeridos, e mulheres encorajadas a tomar o controle de seus corpos [ver 172], mas a menopausa ainda é retratada como “uma batalha a ser vencida” ou como um “desequilíbrio”, levando a experiências corporais e psicológicas problemáticas [127]. A menopausa também é colocada como “atordoante”, ou como um momento “complicado” na vida de uma mulher [171], reforçando a noção do corpo reprodutivo como uma força misteriosa que precisa de vigilância para garantir “gerenciamento”. Ironicamente, a noção feminista de “menopausa como natural”, que foi colocada para desafiar a dominância do modelo médico de menopausa como doença, agora também foi aparelhada pelas empresas farmacêuticas como estratégia retórica para construir a TRH como uma reposição “natural” para a deficiência hormonal da menopausa, na tentativa de contrariar a relutância de muitas mulheres em fazer TRH frente às alegações de risco aumentado de câncer de mama e do endométrio [173].
7 Um processo de subjetificação: mulheres adotando o manto da loucura
Em 1987, Michel Foucault comentou:
Nada poderia ser mais falso do que o mito da loucura como uma doença que não tem consciência de si mesma como tal […] A forma como um sujeito aceita ou rejeita sua doença, a forma como ele a interpreta e dá significado a suas formas absurdas, constitui um dos dilemas essenciais da doença. [174, pp. 46–47]
Isso não é simplesmente sobre ficções representadas como fatos, congelados na esfera da representação. Construções contemporâneas da loucura das mulheres, e das maravilhas das drogas psicotrópicas e dos hormônios, ou da importância do autogerenciamento para tratar transtornos como depressão, funcionam como regimes de verdade que facilitam o diagnóstico de mulheres como “loucas” — por profissionais de saúde, ou pelas próprias mulheres. Dentro do discurso medicalizado, as emoções negativas das mulheres e as respostas razoáveis à vida diária, ou à vida familiar, são colocadas como “sintomas” dignos de diagnóstico psiquiátrico. Checklists de sintomas em revistas de mulheres ou em sites (estes últimos frequentemente financiados pela Big Pharma) facilitam o processo de autodiagnóstico, ao mesmo tempo em que negam as complexidades das experiências de mulheres [175]. Isso age para posicionar todas as mulheres como pacientes em potencial, se elas alguma vez na vida se sentirem tristes ou “pra baixo”, se tiverem “autoestima baixa”, não tiverem vontade de fazer sexo (com um homem), se sentirem sobrecarregadas por responsabilidades no trabalho ou em casa, ou se sentirem arrependidas sobre seu atual status de relacionamento. Quantas mulheres podem dizer que nunca sentiram nada do descrito acima?
A influência direta das propagandas de ISRSs na colocação de mulheres como loucas foi ilustrada num estudo de registros médicos de pacientes diagnosticadas como “transtorno depressivo” ao longo de um período de 15 anos (1985–2000) — a geração pós-Prozac (xvii). Jonathan Metzl reportou que descrições da depressão das mulheres como sendo relacionadas a casamento, relacionamentos, maternidade ou menstruação aumentaram de 50% em 1985 para 97% em 1995 e 2000 [116], espelhando o padrão de propagandas de ISRSs predominante durante o mesmo período reportado acima [114]. A representação de mulheres em publicidades farmacêuticas também foi relacionada à maior probabilidade de médicos diagnosticarem mulheres com ansiedade, psiconeurose ou depressão [111; 176] e então lhes tratando com medicação psicotrópica, uma vez que se sabe que a publicidade desempenha um grande papel em guiar a prescrição de drogas por parte dos médicos [177].
Regimes de conhecimento sobre a loucura das mulheres também estão implicados em autodiagnósticos, ou em aceitação de diagnósticos profissionais, um processo que tem sido descrito como subjetificação [168] — mulheres adotando a posição de sujeito do outro psiquiátrico, aceitando o diagnóstico de “doença mental”, já que a loucura é medicamente definida. Há evidências de que muitas mulheres apenas rotulam sua infelicidade como “depressão”, e como resultado adotam um modelo biomédico para explicar seus “sintomas”, vendo-se como “deprimidas”, depois de receber diagnóstico e tratamento médicos [160; 178]. Por exemplo, numa série de entrevistas com mulheres que haviam recebido um diagnóstico formal de um médico, Deanna Gammell e Janet Stoppard descobriram que antes do diagnóstico, todas as mulheres, com exceção de uma, atribuíam suas experiências a suas vidas cotidianas [178]. Elas descreveram sentirem-se “arruinadas” ou esgotadas, estarem incapazes de funcionar no trabalho, terem problemas com concentração, e “se sentir meio pra baixo” [178, p. 116], mas não viam isso como uma doença, depressão. Como Sarah comentou, antes de seu diagnóstico:
Eu só achava que era mais como um esgotamento, tipo, eu pensei que talvez fosse só meu trabalho […] Pensei que talvez tivesse parcialmente a ver com […] pensar, ah, eu não consigo mais lidar com isso […] Eu meio que jogava a culpa nisso inicialmente, pensando, ok, talvez eu não esteja lidando com meu trabalho com perspectiva [178, p. 116].
Depois do diagnóstico formal, as mulheres reinterpretaram suas experiências como “sintomas”, que eram primariamente vistos como causados por desequilíbrios químicos no cérebro, com termos medicalizados como “enfermidade”, “moléstia”, “doente” e “cura” sendo usados. Isso funcionava para absolver mulheres da culpa de seus sintomas, como Kelly comentou “Eu não estou louca, eu sou só uma pirralha mimada […] Eu não estou sendo egoísta” [178, p. 117]. Também neutralizava o estigma associado à loucura, como Gloria comentou “não é nada de que se ter vergonha, quero dizer, é como qualquer outra doença. Você está deprimida, você tem um coração fraco, qual é a diferença?” [178, p. 117; xviii]. Ao mesmo tempo, as mulheres faziam uma distinção entre seu eu “real” (não deprimido) e o eu deprimido, sugerindo que agora estavam renegando o eu doente, sobre o qual elas acreditavam que não tinham controle nenhum. Isso obviamente tem implicações em termos do enfrentamento por parte dessas mulheres, já que as mulheres estão aceitando a posição medicalizada do paciente passivo, sujeito ao “tratamento” medicamentoso fornecido pelo todo-poderoso médico.

Nesse sentido, Tess, a “paciente” estudo de caso no livro Ouvindo o Prozac de Peter Kramer, é descrita como se sentindo como a verdadeira Tess depois de tomar ISRSs [179], dizendo que “é como se eu estivesse num estado drogado todos esses anos e agora minha mente está clara” [119, p. 8]. Julia, outro caso, diz “eu não me sinto como eu mesma” depois de parar com a medicação, tendo se tornado “uma bruxa de novo” [119, p. 29], uma esposa “pessimista raivosa exigente”. Depois do uso do Prozac, Tracy Thompson disse que notou um “momento de silêncio” em seu cérebro: “eu era um corpo flutuando na superfície da água, e então meu rosto sentiu o ar e eu respirei, pela primeira vez em muito tempo, um longo e gelado trago de ar oxigênio” [180, p. 249]. Se mulheres que são diagnosticadas com depressão se identificam com essas mensagens de cisão, e são receptivas às mensagens promulgadas sobre tais drogas como soluções, não é de se surpreender que tantas aceitem as prescrições passadas por médicos e psiquiatras que oferecem uma cura química (ver o capítulo 5 para uma discussão sobre isso em relação à TPM).
8 Reconhecendo a construção e a experiência vivida das angústias das mulheres
Todos esses argumentos apoiam uma análise construcionista social da loucura das mulheres, enquanto que o diagnóstico psiquiátrico é visto como um processo cultural e historicamente específico que funciona para posicionar aquelas consideradas portadoras de “transtornos” como depressão, DDPM (Desordem Disfórica Pré-Menstrual) ou TPB (Transtorno de Personalidade Borderline) como outsiders, como loucas, servindo para legitimar intervenção e controle médicos [xx]. A própria legitimidade de categorias diagnósticas individuais é questionada, assim como a objetividade e a neutralidade das pessoas fazendo diagnósticos e oferecendo tratamentos — particularmente os bio-psiquiatras com suas conexões pecuniárias com a Big Pharma, a indústria que mais lucra com a loucura das mulheres, como delineado no capítulo 2.
Apesar do acréscimo bem-vindo dessas críticas, há limitações em se tomar uma análise unicamente social-construcionista da loucura das mulheres. Em primeiro lugar, o foco na linguagem e no discurso pode parecer negar a experiência vivida e a negociação com a angústia das mulheres [xxi], a agência das mulheres, a subjetividade das mulheres, “chegando-se, no final, a um sujeito socialmente determinado”, nas palavras de Wendy Hollway [196, p. 5]. O social-construcionismo também tem sido criticado por negar o “real” [ver 197, 198], e em sua negação do realismo, levar aa um “abismo de relativismo […] num mundo em que a ‘verdade’ é abandonada” [199, p. 50; xxii]. Temos que reconhecer que muitas mulheres de fato vivenciam desespero extremo e debilitante, que vem a ser categorizado como “depressão”. Isso foi descrito por uma afetada como “um trem de carga psíquico de desespero retumbante”, que fazia sentir como se “as águas fossem me sugar pra baixo numa grande cachoeira que de alguma forma existisse sob a superfície, uma silenciosa corrente para baixo” [180, pp. 4, 43]. Emily, entrevistada por Michelle LaFrance sobre seu diagnóstico de depressão, descreveu assim sua experiência:
Eu não conseguia pensar direito. Eu só ficava sentada lá perdendo tempo e […] chegou ao ponto de eu sequer querer mais ir pra casa […] não atendia ao telefone […] não fazia nada com ninguém […] sequer tomava banho […] eu simplesmente me sentia tão no fundo do poço. Que eu era nada, eu não prestava pra nada, eu era um fracasso. [154, p. 14]
Em suas memórias Prozac nation (“Nação prozac”, 1995), Elizabeth Wurtzel descreveu assim sua depressão:
Eis a questão da depressão: um ser humano pode sobreviver a quase qualquer coisa, desde que tenha o fim à vista. Mas a depressão é tão insidiosa, e se acumula diariamente, que é impossível ver o fim. A neblina é como uma jaula sem chave. [203, p. 24]

De forma semelhante, Daphne Gottlieb descreveu sua depressão como “real, penetrante, inabalável. Estava me consumindo a partir de dentro e não parava […] Era como uma onda escura, sua sombra pairando milhas acima. Mais cedo ou mais tarde, o pico se curvaria como um punho, me esmagando embaixo” [123, pp. 30–31]. Muitas das mulheres que entrevistamos sobre TPM deram relatos de raiva, ansiedade ou depressão pré-menstrual debilitantes:
Emocionalmente eu fico com raiva, com muita raiva com nada. E eu quero dizer com muita raiva e ansiedade mesmo, eu começo… às vezes eu começo a tremer ou meio que, sabe, meio que, sabe, eu fico muito ansiosa e nervosa e eu tendo a aumentar a proporção das coisas… eu posso ficar chorosa também mas principalmente eu me sinto com raiva mais do que qualquer coisa… ah, é horrível e assustador, eu só quero explodir, eu me sinto como se eu quisesse argh, explodir. (Rachel)
Eu sei que eu estou de TPM porque eu fico muito irritável. Hã… hipersensível. Pronta pra uma discussão com qualquer pessoa. Hã… e quando… emotiva demais, também, sabe, tipo, eu meio que choro com qualquer coisa, sabe… tudo parece tão pior durante esse período. (Fiona)
Eu fiquei na cama o dia inteiro chorando, hã, eu só passava dias, hã, chorando, e não saía do meu quarto, e aí foi quando minha mãe teve que se envolver de novo e ajudou, pegou as crianças por uns dias, exigiu que se eu não fosse buscar ajuda, ela os pegaria permanentemente. (Sandra)
Penny, que foi entrevistada por Helen Malson sobre suas experiências com anorexia, disse que “a raiva e o medo eram de tipo… ser a Penny, eu acho, de ser eu… eu acho que era um medo de ser eu… eu só queria sumir” [204, p. 142]. Kate Bornstein descreveu suas próprias experiências de automutilação e inanição da seguinte forma:
Eu odiava meu corpo então eu passava o mínimo de tempo possível conectada a ele. Eu fazia cortes no meu corpo para que eu retornasse a ele. [quando] eu me cortava eu conseguia sentir alguma coisa, melhor do que nada. Era um alívio temporário. Então eu me ensinei a como parar de comer. [205, p. 217]
Ginny Elkin, que foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, escreveu um relato de sua terapia em conjunto com seu terapeuta, Irvin Yalom, descrevendo a si mesma como vivendo “de forma confusa e assistemática”, acompanhada por uma “ladainha de auto-ódio” [84, p. 129]. Esse é um resumo de suas experiências, apresentadas na terceira pessoa:
Ela é masoquista em todas as coisas. Por toda a sua vida ela tem negligenciado suas próprias necessidades e prazeres. Ela não tem respeito nenhum por si mesma. Ela sente que é um espírito desencarnado — um canário gorjeante pulando pra lá e pra cá de ombro em ombro, conforme ela e suas amigas andam rua abaixo. Ela imagina que só como um fiapo etéreo ela é de algum interesse aos outros […] Ela é cheia de auto-desprezo. Uma pequena voz de dentro constantemente a provoca. Se ela se esquecesse de si mesma por um momento e tomasse parte na vida espontaneamente, a voz que despe de prazer a traz bruscamente de volta para seu caixão de auto-consciência. [206, p. xii]
Não podemos negar esses relatos vívidos de angústia. Igualmente, precisamos entender por que mulheres vivenciam angústias e debilitação tão extremas, mesmo se formos críticas a categorias diagnósticas como depressão, DDPM (Desordem Disfórica Pré-Menstrual) ou TPB (Transtorno de Personalidade Borderline). Feministas que desprezam a medicalização também ficam com o dilema de que a nível individual, diagnósticos como depressão podem servir para validar às mulheres que há um problema “real”, isolando a tristeza prolongada longe do “caráter da afetada” [160, p. 130]. Para algumas mulheres, adotar um modelo biomédico para explicar suas experiências como “depressão” significa que elas não são simplesmente “loucas” ou “fingidas”, já que a depressão é colocada como algo que elas não podem evitar, no lugar de um fracasso pessoal. Por exemplo, Kate, que foi entrevistada por Michele LaFrance, comentou:
Foi uma validação que eu nunca havia tido antes e eu tinha um nome. Era tipo, sabe, ‘é mau comportamento’, [mas] não é. Eu não sou… sabe, desajustada, eu não sou socialmente doente ou qualquer coisa assim. É só que eu estou deprimida. E tudo bem. Tipo, foi muito legal ter um nome pra isso. [160, p. 130]
Da mesma forma, muitas mulheres abraçam o diagnóstico de TPM [207–208] ou depressão pós-parto [209], para assegurar a elas mesmas (e aos outros) que elas não estão “enlouquecendo”. Como Jill, que fez parte do Estudo de TPM e Relacionamentos, disse, “Há um problema real. Existe, eu estou passando por isso, eu sei que é real”. Adotar metáforas de doenças pode servir para legitimar a mulher como muito doente, assim como legitimar a própria doença [210]. Portanto, experiências como depressão não estão “todas na cabeça”, um conceito que para muitas mulheres significa “não real”, o que pode levar à própria mulher se sentir ignorada.
Ao focar a atenção na “loucura” como construção discursiva, também podemos implicitamente negar a influência da biologia ou da genética, ou parecer relegar o corpo a um papel passivo subsidiário, sobre o qual é imposto significado ou interpretação [211], ou algo que é separado do domínio psicológico ou social [212]. Não podemos negar os concomitantes intrapsíquicos e somáticos das experiências que são construídas como transtornos como “depressão”: a exaustão, insônia, problemas de concentração, distúrbios de apetite, ou sentimentos de peso, agitação, aflição e desespero. Igualmente, enquanto a ênfase em fenômenos sociais e discursivos é compreensível como uma reação ao reducionismo biológico, colocar o corpo como irrelevante ou marginal na etiologia, interpretação ou significado da loucura é claramente inapropriado. Para dar um exemplo, pesquisas do campo da neurociência têm fornecido evidências convincentes de que a natureza e qualidade das nossas relações íntimas têm impacto direto em caminhos neurais, e que esses caminhos, por sua vez, influenciam nossa habilidade de lidar com frustração e estresse diários [213–214], e, portanto, nossa experiência vivida de angústia. Também é importante reconhecer a existência das mudanças neurobiológicas que são associadas com angústia severa, que podem ser conceituadas como uma resposta corporalizada, no lugar de uma causa raiz (como as empresas de fármacos querem que acreditemos), já que há evidências convincentes de que a exclusão social ou a quebra de relacionamentos causa mudanças neurológicas que são vivenciadas como “dor real” [215, p. 103]. Outros aspectos materiais das vidas das mulheres talvez também sejam negligenciados numa análise discursiva: a influência de idade, classe social, poder, fatores econômicos, etnia, identidade sexual, relacionamentos pessoais e apoio social, ou um histórico anterior de abuso sexual, dentre outros fatores. Ao mesmo tempo, a desconsideração de pesquisas positivistas, e o foco numa abordagem qualitativa [p. ex., ver 152], poderia também funcionar para negar corpos substanciais de pesquisa que talvez sejam úteis para entender as experiências de mulheres que acabam por ser categorizadas como “depressão”. Porque por mais que talvez sejamos críticas de ambas as presunções epistemológicas e os métodos da pesquisa “convencionais” existente [xxiii], como delineado no capítulo 2, não podemos rejeitar completamente essa pesquisa, se ela nos fornece algum esclarecimento sobre as experiências das mulheres.
Também não está claro como uma crítica social-construcionista que “normaliza” a loucura, e nega seu status como patologia, impactaria a intervenção clínica. Enquanto a terapia social-construcionista e feminista tem sido desenvolvida em diversas áreas, é notavelmente ausente no nível do discurso oficial — treinamento em cursos clínicos convencionais, assim como em artigos em revistas acadêmicas referenciadas. Se queremos desconstruir a própria noção de loucura, como podemos oferecer apoio a mulheres em momentos de angústia severa em sermos acusadas de reificar seu status como patologia? Se estamos focando na construção social ou discursiva da loucura, será a mulher um foco apropriado de atenção? Será que isso não reforça a noção de loucura como um problema individual, a ser resolvido pela mulher ela mesma?
9 Uma análise material-discursiva-intrapsíquica da loucura feminina
Reconciliar teorias opostas e descobertas científicas no campo da loucura das mulheres tem previamente sido descrito como “impossível”, porque “as premissas por trás das histórias e os compromissos disciplinares que eles implicam são imensuráveis” [151, p. 304]. Entretanto, a adoção de um ponto de vista crítico realista permite o reconhecimento de críticas social-construcionistas da medicalização do sofrimento das mulheres, assim como o reconhecimento da realidade do sofrimento das mulheres. Também permite que reconheçamos as descobertas de uma gama de estudos que examinam a raiz desse sofrimento, sem ter de resolver compromissos disciplinares conflitantes.
O realismo crítico é um ponto de vista epistemológico que fica entre posições aparentemente opostas de positivismo/realismo e construcionismo [ver 216]. Como delineado no capítulo 1, o realismo crítico reconhece a materialidade de experiências somáticas, psicológicas e sociais, mas conceitua essa materialidade como mediada pela cultura, pela linguagem e pela política. A legitimidade da experiência subjetiva é reconhecida, mas o foco construcionista no debate teórico em detrimento de pesquisa empírica [198], ou o foco apenas em práticas discursivas [218], é rejeitado. A utilização de uma variedade de metodologias também é aceita, ambas qualitativas e quantitativas, sem que uma seja privilegiada sobre a outra [219]. Isso permite que incorporemos as descobertas de pesquisas conduzidas a partir de uma gama de perspectivas teóricas (biomédica, psicológica, sociocultural, ou discursiva) a uma framework, sem ter de reconciliar presunções epistemológicas conflitantes [199], ou a verdade se clama presente na pesquisa positivista. Assim, um largo corpo de pesquisa, variando de estudos epidemiológicos de larga escala a desenhos de caso único, podem ser usados para fornecer esclarecimento sobre as experiências de sofrimento ou de diagnóstico de “loucura” das mulheres, seja o diagnóstico de depressão, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno de personalidade borderline ou qualquer outro da miríade de “transtornos” do DSM.
Essa abordagem vai além da divisão mente-corpo ou realismo-construcionismo, e evita a distinção desnecessária entre o subjetivo e o objetivo, ou aspectos físicos e mentais da experiência [220]. Isso porque a materialidade não é considerada reduzível ao discurso, ou sem significado a não ser que discursivamente interpretada; no lugar disso, “práticas materiais recebem um status ontológico que é independente de, mas relacionado a, práticas discursivas” [202, p. 102]. Materialidade e discurso então são considerados de igual importância, e inseparáveis, levando à descrição da pesquisa como material-discursiva [185–186; 211]. Abordagens “material-discursivas” têm recentemente sido desenvolvidas em diversas áreas da psicologia, como sexualidade, reprodução, e saúde física ou mental [153, 156–186, 221], em paralelo ao movimento dentro do pós-estruturalismo em direção ao reconhecimento do “extra-discursivo”, os aspectos materiais da experiência [222]. Essa abordagem material-discursiva integracionista é de ser bem-vinda, mas discutivelmente nem sempre vai longe o suficiente, já que o intrapsíquico — e intersubjetivo — é frequentemente ainda deixado de fora [xxiv], por conta de ser visto como individualista ou reducionista por construtivistas [190] — presumindo um “sujeito (masculino) pré-dado, unitário e racional”, nas palavras de Wendy Hollway [196, p. 5]. Da mesma forma, quando fatores intrapsíquicos ou intersubjetivos são considerados (por exemplo em ambas teorizações cognitivas e psicanalíticas) eles são invariavelmente conceituados separadamente ou de fatores discursivos ou materiais.
O corpo em desenvolvimento de teoria psicossocial florescendo atualmente na academia britânica vai na direção de fazer uma ponte nessa divisão, reconhecendo ambas a materialidade de nossas vidas, e nossa experiência intrapsíquica, ao “conceituar e pesquisar um tipo de sujeito que é ambos social e psicológico, que é constituído em e por meio de suas formações sociais, e, ainda assim, tem agência e internalidade”, nas palavras de Stephen Frosh e Lisa Baraitser [223, p. 349]. Wendy Hollway descreve como essa abordagem psico-social (hifenizada) difere de noções positivistas do psicossocial (não hifenizado):
Nessa perspectiva, somos psico-sociais porque somos produtos de uma história de vida única de eventos de vida provocantes de desejo e ansiedade e da maneira como eles foram transformados em realidade interna. Somos psico-sociais porque tais atividades defensivas afetam e são afetadas por condições materiais e discursos (sistemas de significado que pré-existem a qualquer indivíduo) porque defesas inconscientes são processos intersubjetivos (p. ex. afetam e são afetadas pelos outros com quem estamos em comunicação), e por conta dos eventos reais no mundo social externo que são por nós discursivamente, desejosamente e defensivamente apropriados. [224, pp. 467–468; xxvi]
Esse é um importante corpo de trabalho que está estendendo nossa compreensão da realidade complexa entre subjetividade e o mundo social. Entretanto, ele marginaliza aspectos corporizados da experiência, assim como o contexto perpassado por gênero das vidas das mulheres — com críticas feministas firmes anteriores parecendo ocupar um domínio apolítico [p. ex. 196; 226]. Também se baseia fortemente na psicanálise, que tem sido muito criticada por demonstrar uma certeza arrogante sobre a “verdadeira” natureza da subjetividade humana, parecendo saber os sujeitos mais do que eles conhecem a si próprios [227], além de ser focada nos primeiros estágios do desenvolvimento em vez de na agência e na intersubjetividade adultas [xxvii]. A psicanálise também foi descrita por Louise Gyler como tendo “um inconsciente perpassado por gênero” que serve para reproduzir relações de poder de gênero explícitas e implícitas, levando a presunções perpassadas por gênero socialmente normativas não serem questionadas [230].

Do que precisamos não é apenas uma abordagem que consegue abordar “como o que é social é também psíquico e também somático, ou corporal” [212, p. 273], mas também uma abordagem que reconheça o contexto perpassado por gênero das vidas das mulheres e dos diagnósticos psiquiátricos. Uma abordagem material-discursiva-intrapsíquica (MDI) pode fazer isso, fornecendo uma análise multidimensional das interconexões irrevogáveis entre o contexto material da vida das mulheres, loucura e gênero como categorias discursivas, e o sofrimento ou infelicidade que muitas mulheres vivenciam. Ela nos permite questionar a crescente medicalização da tristeza no Ocidente, em particular a forma como mulheres que vivenciam uma tristeza mediana ou problemas compreensíveis com a vida cotidiana são definidas como tendo um transtorno mental como “depressão”, então lhes dizem que o melhor tratamento é medicação, mais frequentemente um ISRS. Também nos permite reconhecer o “real” do sofrimento psicológico e somático das mulheres, seja esse sofrimento mediano ou severo, conceituando-o como um fenômeno complexo que é discursivamente construído como loucura dentro de um contexto histórico e cultural específico. Podemos reconhecer que uma mulher específica, vivendo no Ocidente no século XXI, com um conjunto particular de circunstâncias relacionais e outras circunstâncias de vida, e um conjunto particular de crenças e de estratégias de enfrentamento, pode chegar a vivenciar sofrimento psicológico e somático, e rotulá-lo de “depressão”, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno de personalidade borderline ou transtorno de estresse pós-traumático, porque essa é a categoria diagnóstica disponível para fazer com que sua experiência tenha sentido. De fato, ela vai vivenciar e expressar um conjunto particular de “sintomas” que coincidem com as categorias de loucura disponíveis num lugar particular num momento particular no tempo — a “reserva de sistemas” [231], que comunicam sofrimento. Se aquela mesma mulher vivesse no século XIX, ela talvez construísse sua experiência como histeria, ou neurastenia (ou tivesse sua experiência categorizada de tal forma por terceiros), e vivenciasse desmaios, paralisias parciais ou completas, no lugar de distúrbios de sono, sensação de falta de esperança, ou irritabilidade — sintomas chave de desordens como a depressão hoje.
Entretanto, isso não significa que eu desprezaria a materialidade do sofrimento psicológico ou corporificado das mulheres, ou as concomitantes biológicas e socio-culturais do fenômeno posicionado como doença psiquiátrica, como “depressão” — reduzindo doenças a construções sociais. A mulher vivenciando a realidade de um estado depressivo (ou histérico) incorpora o social (o “discursivo”) totalmente dentro da própria possibilidade de sua existência, e então a causa da loucura das mulheres não é tida como estando dentro da mulher, ou fora da mulher, mas, no lugar disso, reflete um “ambos” mediado [ver 212]. Porque dentro de uma framework crítica realista, nenhum dos níveis de análise material, discursivo ou intrapsíquico é privilegiado sobre o outro. Isso se coloca em contraste às abordagens de diátese-estresse ou bio-psico-social que dominam a psiquiatria social [232], que são em essencial modelos médicos que privilegiam a biologia, colocando o corpo como um veículo mecanicista e a cultura como uma “superfície de cobertura no humano universal” [154, p. 184]. Elas também negam a construção discursiva de ambos a loucura e o gênero, fornecendo assim uma análise parcial da construção e da experiência vivida do sofrimento das mulheres.
Nos dois capítulos seguintes eu uso essa framework para examinar as formas como a materialidade da corporificação e do contexto de vida de uma mulher, a construção discursiva da loucura e dos papéis de gênero, e a negociação intrapsíquica em que mulheres, e suas famílias, se engajam, contribuem para as experiências vividas de sofrimento, ou para uma mulher ser colocada como louca. Eu pego duas áreas específicas de vidas de mulheres como exemplos de caso, examinando a objetificação e a violação de mulheres no contexto da violência sexual, focando num estudo de caso de mulheres que foram abusadas sexualmente na infância no capítulo 4, e examino a construção e a experiência vivida de transtorno pré-menstrual, categorizado como síndrome pré-menstrual (TPM) ou transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), no capítulo 5.
Para ver as notas e as referências, você pode baixar o livro aqui.



![Trabalhando com mulheres e meninas [na psicologia]? É hora de rejeitar a psiquiatria](https://qgfeminista.org/wp-content/uploads/2021/08/12PuvK7C3IauwCnk9swh5Jg-238x178.jpeg)


