A mulher burguesa é aliada? O homem trabalhador é inimigo?

Enquanto a primeira onda do feminismo iniciou como um movimento por direitos civis, mais (re)conhecido pelas fortes movimentações pelo direito ao voto, a segunda onda tentou entender por que é que, pra começar, nós tínhamos de lutar para ter o que os homens já tinham. Portanto, é na segunda onda que mais se desenvolve um corpo teórico mais robusto sobre a origem da opressão da mulher, da desigualdade política entre os sexos.
Se colocarmos isso em uma linha do tempo para tentar analisar o surgimento do movimento de mulheres nos contextos em que apareceu, vemos que as origens do feminismo datam da Revolução Francesa (1768) — portanto, expectável o seu caráter burguês, influenciado pelo positivismo da época, herdando algumas reflexões e valores do iluminismo, buscando igualdade dentro de uma estrutura feita para ser desigual (claro, o sistema burguês que se instaurava era revolucionário relativamente à alternativa da monarquia ou do czarismo que havia na Rússia, por exemplo, portanto, compreendemos a expectativa social positiva sobre a nova organização).
A segunda onda emerge entre finais dos anos 50, um contexto bastante distinto. Tinha acontecido a revolução soviete na Rússia e as mulheres já tinham um vislumbre de que uma organização social diferente era possível. Tínhamos agora uma crítica à burguesia que se havia instalado depois da Revolução Francesa, já tínhamos experiências suficientes para entender que essa estrutura não comportava igualdade, mas dependia das desigualdades — de sexo, de raça e de classe. As mulheres dos anos 50, se não tinham visto e vivido, certamente tinham muito próximas as memórias e o conhecimento da I e II Guerra Mundial, o nazismo, a guerra no Vietnã, o Apartheid.
Portanto, a segunda onda se desenvolve num contexto em que a desilusão, a crítica e o desafio à ordem imposta pela burguesia já eram presentes. Partidos e movimentos de esquerda proliferavam, além de outros movimentos sociais como o movimento negro (como o Movimento Pelos Direitos Civis e o Partido Pantera Negra), movimentos anti-guerras, movimentos de gays e lésbicas e movimentos de mães. Uma conjuntura muito distinta das antepassadas sufragistas e abolicionistas da primeira onda.
Muitas das mulheres que se juntaram para formar o que ficou conhecido como Segunda Onda eram mulheres dissidentes ou ainda integrantes de partidos de esquerda, do movimento negro, dos movimentos anti-guerra, movimentos anarquistas e movimento pelos direitos de lésbicas e gays. Eram mulheres que chegavam com experiências nas organizações hierárquicas e rígidas da esquerda leninista; com leituras de Marx, Engels, Bakhunin, mas também carregadas de críticas e dissabores do que tinham vivido (ou ainda viviam) entre seus “camaradas revolucionários” na Esquerda, no movimento negro, no movimento anti-guerra e também seus aliados gays. Nada de se espantar, uma vez que mesmo entre os “grandes pensadores” e filósofos que influenciavam e davam corpo ao pensamento ocidental, incluindo à Esquerda, encontramos a misoginia descarada. Por exemplo, nos escritos de Prodhoun, “pai” do Anarquismo:
“Idéias desconexas, raciocínios ilógicos, ilusões tomadas por realidade, analogias vazias transformadas em princípios, uma disposição de espírito fatalmente inclinada à destruição: esta é a inteligência da mulher (…). E uma vez que, no que concerne à vida econômica, política e social, o corpo e a mente trabalham juntos, cada um multiplicando o efeito do outro, então o valor físico e intelectual do homem comparado ao a mulher atinge uma proporção de 3 x 3 para 2 x 2, ou de 9 para 4. Sem dúvida, se a mulher contribuir para a ordem e a prosperidade social no grau que lhe corresponde, é justo que sua voz seja ouvida; mas que na assembléia geral o voto do homem conte por 9 e a mulher por 4; isto é decidido pela aritmética quanto pela justiça”
Assim, desiludidas, mas influenciadas pelo materialismo, o materialismo histórico e a dialética de Marx e o estruturalismo, a teorização da segunda onda, posteriormente rotulada como feminismo radical (feminismo que vai à raíz), elaborou o sexo como uma classe e entendeu a dialética da opressão que assim nos constituía. Daí a famosa frase de Simone de Beauvoir: “não se nasce mulher, torna-se”.
Isso significava perceber como um dado tão natural e material como o sexo era transformado e belicizado, dialeticamente, numa classe política. Isso contestava a ideia essencialista de um destino biológico, um “cérebro rosa”, uma emocionalidade e irracionalidade “natural” das mulheres por nascerem do sexo feminino, argumentação solidamente perpetuada desde a Antiguidade, como escreveu Aristóteles:
“No que diz respeita aos sexos, o macho é por natureza superior e a fêmea o inferior, o macho governa e a fêmea se sujeita”
até Hegel:
“As mulheres são passíveis de educação, mas não são feitas para atividades que demandam uma faculdade universal, tais como as ciências mais avançadas, a filosofia e certas formas de produção artística. As mulheres podem ter idéias felizes, gosto e elegância, mas não podem atingir o ideal”.
Monique Wittig explica bem a dialética do sexo como classe:
“O que acreditamos ser uma percepção física e direta é apenas uma construção sofisticada e mítica, uma ‘formação imaginária’ que reinterpreta características físicas (em si mesmas tão neutras quanto qualquer outra, mas marcadas pelo sistema social) através da rede de relacionamentos em que são percebidos. O sentido em que a maioria das pessoas considera que o gênero é assegurado com base no encorpamento é, assim, entendido como uma função ideológica do gênero que obscurece e reforça as condições materiais da opressão das mulheres.”
E por que? Ou melhor, para quê? Monique aprofunda:
“A ideologia da diferença sexual funciona como censura em nossa cultura, mascarando, com base na natureza, a oposição social entre homens e mulheres. Masculino/feminino, macho/fêmea são as categorias que servem para ocultar o fato de que as diferenças sociais sempre pertencem a uma ordem econômica, política e ideológica. Todo sistema de dominação estabelece divisões nos níveis material e econômico.”
A ideia dos sexos organizados como classe política, embora crivada pelas teóricas da segunda onda, já tinha seu gérmen num tempo anterior, podemos encontrá-la, por exemplo, nos escritos de Eleanor Marx, filha de Karl Marx, como diz em seu livro “A Questão da Mulher”:
“A verdade, não totalmente reconhecida até mesmo por aqueles ansiosos por fazer o bem à mulher, é que ela, como as classes trabalhadoras, está em uma condição oprimida; que a posição dela, como a deles, é de degradação impiedosa. As mulheres são as criaturas de uma tirania organizada dos homens, como os trabalhadores são criaturas de uma tirania organizada de ociosos.”
A compreensão de como o sexo funcionava como uma classe na estrutura e ordem social foi fundamental para o feminismo. De um lado, permitiu analisar os fenômenos sociais, a organização política e econômica da sociedade, e a vida particular das mulheres (“o pessoal é político”) através de um prisma que os “óculos” do marxismo não permitiam visualizar. Indo além dos meios de produção e destrinchando os meios de reprodução. Um exemplo claro da importância dessa nova perspectiva é perceber como, frenquentemente, as chamadas “feministas marxistas” — também uma identificação emergente na segunda onda — assumiam posicionamentos claramente neoliberais em questões que envolviam as vidas e os corpos das mulheres, como prostituição e novas tecnologias reprodutivas, uma vez que não iam além da perspectiva trabalho/produção.
Até hoje essa diferença é sentida, apesar do histórico em contraditório: enquanto a URSS foi a primeia a implementar o que hoje chamamos “modelo neoabolicionista” relativamente à prostituição (modelo pelo qual feministas radicais fazem campanha no mundo todo) — uma abordagem que criminaliza clientes, descriminaliza pessoas na prostituição e prepara um enorme aparato de políticas para reinserção no trabalho produtivo, educação e criminalização de operadores de bordeis e traficantes — , muitas mulheres marxistas (como Silvia Federici e Nancy Fraser) apoiam a regulamentação da prostituição como um “trabalho como outro qualquer”, ignorando o que esse reconhecimento implica relativamente ao status das mulheres na sociedade, como sujeitos, como pessoas que estão sendo compradas pela desigualdade econômica. Uma visão que só pode fazer sentido quando se ignora a misoginia e a construção histórica dialética dos corpos femininos para exploração sexual e reprodutiva dos homens na sociedade.
Dessa forma, embora a teoria desenvolvida por feministas radicais tenha se aprofundado como nenhuma outra, ainda hoje, na compreensão sobre a misoginia, o funcionamento do Patriarcado, e os entrelaçamentos de sexo, raça e classe, uma acusação preguiçosa vinha para ficar — uma acusação que, provavelmente tendo começado como uma dúvida legítima, foi belicizada para ostracizar, acusar e envergonhar e ainda hoje persegue movimentos feministas radicais. Esta é:
Se mulheres são uma classe explorada e oprimida pela classe dos homens, então as feministas reivindicam uma aliança com mulheres burguesas e declaram o homem trabalhador como seu inimigo?
A resposta curta e grossa para essa pergunta é:
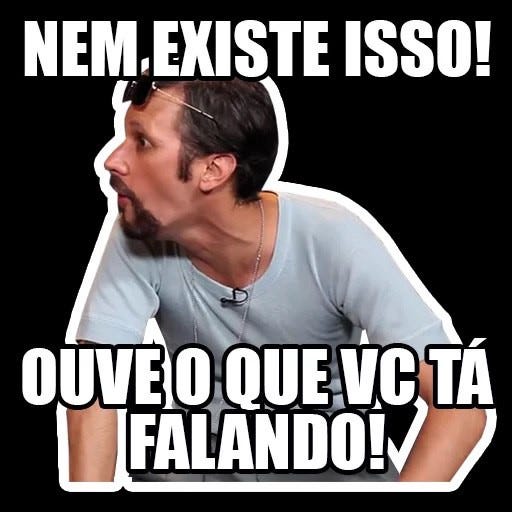
Claro que não.
A teoria feminista radical nunca ignorou a existência do sistema capitalista e a necessidade da sua derrubada. Aliás, isso seria no mínimo incoerente se lembrarmos que a maioria das mulheres que compuseram a segunda onda vinham de partidos e movimentos de esquerda. A crítica que sempre foi colocada por teóricas feministas foi, na verdade, sobre a misoginia e o racismo presente entre os círculos revolucionários. Afinal, se trabalhávamos juntos para uma revolução, que tipo de sociedade poderiam as feministas, brancas ou negras, envisionar se seus próprios camaradas eram os primeiros a reproduzir as opressões, a silenciá-las, abusá-las ou explorá-las?
Essa crítica, invés de ser trabalhada nos círculos, foi mais facilmente deturpada e se virou contra os movimentos feministas e negros como “identitarismos”, como se aquelas e aqueles que denunciavam as práticas racistas e misóginas nos círculos revolucionários — que obviamente eram um reflexo do sistema que pretendiam derrubar e só poderia reproduzir as suas estruturas — fossem o problema, os “divisores da classe”. Não, claro que o problema não era o camarada assediador ou racista! Foque na revolução!
Claro que os “problemas universais” dos homens brancos não eram considerados identitários. Identitário era apenas aquilo que não os afetava, portanto não viam necessidade de criticar ou resolver. Depois da revolução conversamos! Mas isso do identitarismo, que não nego como um problema, mas não nesses termos que se colocam, é já outro texto…
De volta à questão e para afinal respondê-la: se as mulheres são uma classe e os homens são a classe opressora, então feministas veem na mulher burguesa uma aliada e no homem trabalhador um inimigo?
Não. Porque a existência do Patriarcado não nega ou apaga o capitalismo e o racismo. Como escreveu Andrea Dworkin em seu livro “Woman Hating”, comentando a situação dos Estados Unidos, mas numa observação que serve para a maioria (senão todos) os países ocidentais:
“A maioria das mulheres envolvidas na articulação da opressão das mulheres era branca e de classe média. (…) Por causa de nossa participação no estilo de vida da classe média, éramos opressoras de outras pessoas, nossas irmãs brancas pobres, nossas irmãs negras, nossas irmãs chicanas — e dos homens que, por sua vez, as oprimiam. Esse tecido de opressão estreitamente entrelaçado (…) garantiu que onde quer que alguém estivesse, estava com pelo menos um pé pesando sobre a barriga de outro ser humano.”
Analisar o sexo como uma classe social não é ver em toda mulher uma aliada e em todo homem um inimigo. Não se deve cair na análise essencialista do sexo feminino como a figura última da vitimização isolada, como se as mulheres não participassem, tal como o sexo masculino, em todas as outras esferas da sociedade, que somente existem sob a organização capitalista e do racismo estrutural. Como escreveram Pat Mahony e Christine Zmroczek no texto “Feminismo Radical da Classe Trabalhadora”, analisar o sexo como classe é perceber que “onde uma mulher tem status privilegiado em relação a um homem, será porque ela é branca e ele negro, ela é classe média e ele classe trabalhadora, não porque ela é uma mulher.”; e que mesmo a discriminação “positiva” não deixa de reforçar o status de segunda classe das mulheres, como bem explicou Catherine Mackinnon no seu livro “Feminism Unmodified”:
“Diferença é a luva de pelica na mão de ferro da dominação. Isso é tão verdade quando as diferenças são afirmadas como quando são negadas, quando suas substâncias são aplaudidas ou quando são desacreditadas, quando mulheres são punidas ou quando elas são protegidas em nome das diferenças.”
Na verdade, até tenho alguma dificuldade de compreender a aparente confusão que essa pergunta-acusação, que tantas vezes nos dirigem, parece carregar. Afinal, a análise é especificamente sobre a constituição e controle de grupos na sociedade, não sobre alianças políticas e estratégias de libertação.
Compreender o sexo como uma classe serve tanto para as mulheres analisarem o modus operandi do Patriarcado, como para compreenderem que mesmo mulheres burguesas não estão isentas da misoginia — por mais privilégios que sua classe social ou a cor de sua pele possam assegurar. Isso não quer dizer que seus interesses de classe deixem de existir imediatamente ou que ela nunca possa ser responsável pela opressão e exploração de mulheres negras e homens brancos e negros da classe trabalhadora.
Parece-me evidente que, numa perspectiva de luta, terei mais facilmente um aliado num homem trabalhador organizado politicamente do que na espera de apoio de uma Hillary Clinton da vida. Embora, acho válido frisar, concorde mais uma vez com Eleanor Marx que as mulheres não tem nada que esperar dos homens, como os trabalhadores não tem nada que esperar da burguesia. O que esse fraco argumento oculta, entretanto, é que o homem trabalhador não deixa de ser um opressor direto no meu cotidiano, na maioria das vezes.
Os índices de estupro, de violência doméstica, de incesto e feminicídio, na sua maioria perpetrados por homens com quem temos relações afetivas diretas, homens do nosso círculo próximo, para não contar as experiências de misoginia e machismo dentro dos círculos militantes no espectro político da Esquerda; tudo isso nos lembra, constantemente, que há ainda um longo caminho para que possamos fazer juntos uma revolução. E que isso é basilar. E a recusa em encarar e enfrentar essa questão apenas protela essa aliança, essa unidade de classe tão reivindicada, pois não estamos dispostas a dar nossas vidas por uma “nova sociedade” onde continuamos a ser desiguais, estupradas e assassinadas.
Ou abolimos as classes — todas as classes — ou nenhuma revolução é possível.






