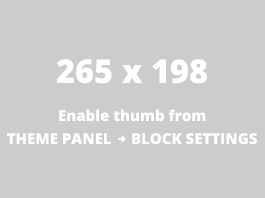E não sou eu uma mulher? — Sojourner Truth
Feministas negras falam como mulheres porque nós somos mulheres… — Audre Lorde

É comum dizer que algo é bom na teoria, mas não na prática. Eu sempre quis dizer: então não é uma teoria boa, né?
Ser bom na teoria, mas não na prática posiciona uma relação entre teoria e prática que coloca a teoria antes da prática, ambas metodologicamente e normativamente, como se a teoria fosse um terreno por si só. A imagem convencional das relações entre as duas é: primeiro a teoria, depois a prática. Você tem uma ideia, depois age sobre ela.
Na Academia de Direito, você teoriza, depois tenta ganhar alguma prática para por em prática. Para ser mais exata, você lê leis, revisa artigos, depois escreve mais artigos com revisão de leis. O mais perto que alguns acadêmicos de direito chegam da prática é o ensino — seus estudantes, a maior parte dos quais irá praticar, sendo considerados por muitos como um risco profissional para a sua teorização. A versão pós-moderna da relação entre teoria e prática é discursar até a morte.
A teoria não gera prática, apenas mais texto. Ela prossegue como se você pudesse desconstruir as relações de poder, deslocando seus marcadores em sua cabeça.
Como todo idealismo formal, essa abordagem da teoria tende a reproduzir inconscientemente relações de domínio existentes, em parte porque é uma atividade de remoção totalmente elitista. Neste nível, toda teoria é uma forma de prática, porque ou subverte ou apoia os desdobramentos de poder existentes em sua metáfora marcial.
Como uma abordagem para a mudança, é o mesmo que a abordagem convencional da relação teoria/prática: dirigida pela mente, não pelo mundo. A mudança social é primeiramente pensada, depois é realizada. Os livros relacionam-se com os livros, as cabeças falam para as cabeças. Corpos não destroem corpos ou pessoas movem pessoas. Como teoria, é a desrealização do mundo.
| Reproduzido do Diário de Lei e Feminismo de Yale, (1991b), 4 (13) pp. 13–22
A citação inteira é “Feministas Negras falam como mulheres porque nós somos mulheres e não precisamos que outras falem por nós”
O movimento pela libertação da mulher, incluindo no Direito, se movimenta no sentido oposto. Ele é primeiro prática, depois teoria. Na verdade, ele faz esse caminho na prática, não apenas na teoria. O feminismo era prática muito antes de ser teoria. No seu nível real, o Movimento das Mulheres — onde as mulheres se movem contra seus determinantes como mulheres — continua sendo mais prática que teoria. Isso o distingue do feminismo acadêmico. Para as mulheres do mundo, a diferença entre a teoria e a prática é o fosso entre a prática e a teoria.
Nós conhecemos as coisas com nossas vidas e vivemos esse conhecimento, além de qualquer coisa que qualquer teoria tenha teorizado ainda.
A prática das mulheres de confrontação com as realidades do domínio masculino ultrapassa qualquer teoria existente sobre a possibilidade de consciência ou resistência. Escrever a teoria desta prática não é trabalhar através de enigmas lógicos ou quebra-cabeças divertidos, não é para fantasiar utopias, não é para moralizar ou dizer às pessoas o que fazer. Não é para exercer autoridade; não conduz à prática.
Sua tarefa é envolver a vida através do desenvolvimento de mecanismos que identifiquem e critiquem invés de reproduzir práticas sociais de subordinação, e fazer ferramentas de consciência e resistência das mulheres que promovam uma luta prática para acabar com a desigualdade. Esse tipo de teoria exige humildade e requer participação.
Estou dizendo: nós, que trabalhamos com a lei, devemos abordar o negócio de articular a teoria da prática das mulheres: resistência, visões, consciência, feridas, noções de comunidade, experiência de desigualdade das mulheres. Na prática, quero dizer, socialmente vivida. À medida que nossa questão teórica se torna “o que é a teoria da prática feminina”, nossa teoria se torna uma maneira de se mover contra e através do mundo e a metodologia se torna tecnologia.
Especificamente — e essa teoria habita particularidades — eu quero pegar a noção de experiência “como mulher” e argumentar que é a prática da qual o conceito de discriminação “baseado no sexo” é a teoria legal. Ou seja, eu quero investigar como as realidades da experiência das mulheres em matéria de desigualdade sexual no mundo moldaram alguns contornos da discriminação sexual na lei. A igualdade sexual como um conceito legal não tem sido tradicionalmente teorizada para abranger questões de agressão sexual ou reprodução porque a teoria da igualdade foi escrita da prática masculina, e não das mulheres.
As experiências masculinas de subordinação em grupo não se concentraram em abusos sexuais e reprodutivos, embora incluam instâncias. Alguns homens foram feridos dessa forma, mas são poucas e geralmente não são considerados feridos porque são homens, mas sim apesar de e em derrogação disso. Poucos homens são, sexualmente e reprodutivamente falando, “situados de forma semelhante” às mulheres, mas tratados melhor. Portanto, a sexualidade e a reprodução não são consideradas como questões de igualdade na abordagem tradicional.
Duas mulheres intrépidas e indomáveis, mulheres decididas a escrever a prática de suas vidas na lei, moviam a teoria da igualdade do sexo para incluir essas questões. No caso dela, Meritor Savings Bank v. Vinson, Mechelle Vinson estabeleceu que o assédio sexual como ambiente de trabalho é a discriminação sexual sob a lei dos direitos civis. Sua resistência a seu supervisor, Sidney Taylor — especificamente, a identificação de que sua repetida violação, sua posição sobre ela no cofre do banco acenando seu pênis e rindo, foi feita para ela porque ela era uma mulher — mudou a teoria da discriminação sexual para todas as mulheres.
No caso “California Federal Savings and Loan Association v. Guerra”, Lillian Garland estabeleceu que a garantia de licenças não-remuneradas para mulheres grávidas por lei não é discriminação com base no sexo, mas é um passo para acabar com a discriminação com base no sexo. A resistência dela ao seu empregador, a California Federal Savings and Loan Association, em sua recusa de reestabelecê-la ao trabalho depois da licença maternidade; a identificação dela daquela prática como tratamento ilegal porque ela era mulher, conferiu à lei da igualdade sexual um giro decisivo na direção da promoção da igualdade, longe de seu status anterior, refletindo a neutralidade regressiva.
Os argumentos que ganharam esses casos basearam-se na vida dos demandantes como mulheres, ao insistir que as práticas sociais atuais que as subordinavam como mulheres fossem teoricamente reconhecidas como discriminação inadmissível baseada no sexo de acordo com a lei. No processo, agressão sexual e reprodução tornaram-se questões de igualdade sexual, com implicações para as leis de estupro e aborto, entre outras.
Então, o que significa ser tratada “como mulher” aqui?
Falar em ser tratada “como uma mulher” é fazer uma afirmação empírica sobre a realidade, descrever as realidades da situação das mulheres. Nos EUA, com paralelos em outras culturas, a situação das mulheres combina pagamento desigual com alocação para trabalho desrespeitado, ser alvo sexual de estupro, violência doméstica, abuso sexual enquanto criança, e assédio sexual sistemático; despersonalização, degradação das características físicas, uso em entretenimento denigrante, privação de controle reprodutivo e prostituição forçada.
Ver que essas práticas são feitas pelos homens para as mulheres é ver esses abusos como constituindo um sistema, uma hierarquia de desigualdades.
Esta situação ocorreu em muitos lugares, de uma forma ou de outra, por muito tempo, muitas vezes em um contexto caracterizado por privação de direitos, preclusão da propriedade (as mulheres são mais propensas a ser propriedade do que possuir), propriedade e uso como objeto, exclusão da vida pública, pobreza baseada no sexo, sexualidade degradada e uma desvalorização do valor humano das mulheres e contribuições em toda a sociedade.
Esta subordinação das mulheres aos homens é socialmente institucionalizada, cumulativamente e sistematicamente moldando o acesso à dignidade humana, respeito, recursos, segurança física, credibilidade, participação na comunidade, fala e poder. Composto por todas as suas variações, as mulheres do grupo podem ter uma história social coletiva de destituição, exploração e subordinação que se estendem ao presente. Ser tratado como “uma mulher” neste sentido é ser prejudicada por estas formas, incidindo em ser socialmente atribuído ao sexo feminino.
Falar de tratamento social “como mulher” não é, portanto, invocar qualquer essência abstrata ou genérica ou tipo homogêneo ideal, não postular nada, muito menos algo universal, mas referir-se a esta realidade material concreta diversa e penetrante de significados sociais e práticas tais que, nas palavras de Richard Rorty, “uma mulher ainda não é o nome de uma maneira de ser humano…”
Assim, a coerência da teoria das “mulheres” fora da prática de “mulheres” produz o oposto do que Elizabeth Spelman criticou como uma hipótese redutora de igualdade essencial de todas as mulheres que ela identifica em alguma teoria feminista. A tarefa de teorizar a prática das mulheres produz um novo tipo de teoria, uma teoria diferente dos modos anteriores de teorização na forma, não apenas do conteúdo. Como Andrea Dworkin disse há muito tempo, a situação das mulheres exige novas formas de pensar, não apenas pensar em coisas novas.
Nem pensar “como” uma mulher, como o incorporar de uma experiência coletiva, o mesmo que pensar “tipo” uma mulher, que é reproduzir os determinantes de alguém e pensar como uma vítima. Alguns trabalhos recentes, especialmente os de Elizabeth Spelman, podem ser lidos para argumentar que não há tal coisa como experiência “como mulher” e mulheres de cor provam isso[1].
Esta teoria converge com a elevação das “diferenças” como uma bandeira sob a qual desenvolver feminismos diversos. Fazer teoria à maneira abstrata convencional, como muitos fazem, é importar a suposição de que todas as mulheres são iguais ou não são mulheres. O que as torna mulheres é seu encaixe dentro da abstração “mulher” ou sua conformidade com uma fixa e posicionada essência feminina.
A consequência é reproduzir a dominação: enquanto muito trabalho submetido a essa crítica não faz isso, é possível seguir o rastro até, surpreendentemente, às obras de Simone de Beauvoir e Susan Brownmiller. Richard Rorty (1991, pp. 231–34) afirma que “o ponto central de MacKinnon, como eu a leio, é que “uma mulher” ainda não é o nome de uma maneira de ser humano — nem ainda o nome de uma identidade moral, mas, no máximo, o nome de uma deficiência”.
Spelman implica que as “diferenças” não devem ser valorizadas ou usadas como construção teórica (1988, p. 174), mas outras, com base em seu trabalho e na de Carol Gilligan (1982), o fazem. De Beauvoir, explicando porque as mulheres são cidadãs de segunda classe, diz:
Aqui temos a chave para todo o mistério. No nível biológico, uma espécie é mantida apenas criando-se de novo; Mas esta criação resulta apenas em repetir a mesma vida em mais indivíduos… A desgraça [da mulher] é ter sido biologicamente destinada à repetição da vida, quando, mesmo em sua própria visão, a vida não carrega dentro de si suas razões para ser, razões que são mais importantes do que a própria vida. (de Beauvoir: 1971, p. 64)
Aqui, mulheres são definidas em termos de capacidade reprodutiva biológica. Não é claro como qualquer organização social de igualdade poderia mudar um fato tão existencial, muito menos como argumentar que uma política social que a institucionalizou poderia ser sexualmente discriminatória.
Susan Brownmiller argumenta a centralidade do estupro na condição das mulheres nos seguintes termos: a capacidade estrutural do homem de estuprar e a correspondente vulnerabilidade estrutural das mulheres são tão básicos para a fisiologia de ambos os nossos sexos como o primeiro ato sexual em si. Se não fosse por este acidente de biologia, uma acomodação que exigisse o bloqueio de duas partes separadas, pênis e vagina, não haveria copulação nem violação, como a conhecemos… Por decreto anatômico — a inescapável construção de seus órgãos genitais — o macho humano era um predador natural e a fêmea humana serviu como sua presa natural (Brownmiller: 1976, pp. 4, 6).
Como exatamente se opor ao abuso sexual partindo deste ponto de vista é igualmente pouco claro. Fazemos uma lei contra a relação sexual? Embora ambas as teóricas tenham muito mais a oferecer sobre a questão do que define a condição das mulheres, o que temos nessas passagens é o simples determinismo biológico apresentado como uma teoria crítica da mudança social. O problema aqui, parece-me, não começa com a falha em levar em conta a raça ou a classe, mas com o fato de não ter em conta o gênero.
Não é só ou mais fundamentalmente um relato de domínio de raça ou classe que está faltando aqui, mas um relato de dominância masculina. Não há nada biologicamente necessário sobre o estupro, como Mechelle Vinson deixou bastante claro quando processou por violação como tratamento desigual com base no sexo. E, como Lillian Garland viu, e fez todos os outros ver, é a forma como a sociedade castiga as mulheres para a reprodução que cria problemas às mulheres com a reprodução, e não a reprodução propriamente dita. Ambas as mulheres são negras.
Isso apenas reforça minha suspeita de que, se uma teoria não é verdadeira e não funciona para mulheres de cor, não é verdade e não funciona para nenhuma mulher e não é realmente sobre gênero. A teoria da prática de Mechelle Vinson e Lillian Garland, porque é sobre a experiência das mulheres negras, é sobre gênero.
Em críticas recentes ao trabalho feminista por não ter em conta raça ou classe, vale a pena notar que o fato de que existe tal coisa como raça e classe é assumido, embora a raça e a classe sejam geralmente tratadas como abstrações para atacar gênero ao invés de como realidades concretas, se de fato são tratadas de todo. Spelman, por exemplo, discute a raça, mas praticamente nada sobre classe. Em qualquer caso, raça e classe são consideradas de forma não problemática e não precisam de justificação ou construção teórica.
Embora muitas mulheres tenham exigido que as discussões de raça ou classe levem em consideração o gênero, normalmente essas demandas não assumem a forma de que, fora do reconhecimento explícito de gênero, a raça ou a classe não existem. Porque há uma diversidade para a experiência de homens e mulheres de cor, e de mulheres e homens da classe trabalhadora, independentemente da raça, não significa que a raça ou a classe não são conceitos significativos. Não ouvi ninguém dizer que não pode haver uma discussão significativa sobre “pessoas de cor” sem especificidade de gênero.
Assim, a frase “pessoas de cor e mulheres brancas” passou a substituir as “mulheres e minorias” de antes, que as mulheres de cor perceberam com razão que não as incluía duplamente e incorporava um padrão branco para o sexo e um padrão masculino para a raça. Mas eu não ouço falar de “todas as mulheres e homens de cor”, por exemplo.
Vale a pena pensar sobre isso quando as mulheres de cor se referem a “pessoas que se parecem comigo”, entende-se que elas querem dizer pessoas de cor, não mulheres, apesar de tanto a raça quanto o sexo serem trabalhos visuais, ambos possuem tanto clareza quanto ambiguidade, e ambos são marcas de opressão, portanto, comunidade.
A este respeito, recentemente, chamou-me a atenção que a mulher branca é a questão aqui, então decidi que era melhor descobrir o que isso era.
Essa criatura não é pobre, não é agredida, não é estuprada (não mesmo), não é molestada quando criança, não engravida na adolescência, não é prostituída, não é coagida na pornografia, nem é uma mãe de bem-estar e não é economicamente explorada. Ela não trabalha. Ela é ou a imagem que o homem branco faz dela — afetada, mimada, privilegiada, protegida, cabeça nas nuvens e autoindulgente — ou a imagem que o homem negro faz dela — tudo isso, além da “bela menina branca” (que significa feia como o cão, mas considerada como o melhor em beleza porque ela é branca).
Ela é a senhorita Anne da cozinha, ela coloca Frederick Douglass no tronco, ela diz que é estupro quando Emmett Till olha para ela de lado, ela manipula o poder muito real dos homens brancos com o levantar de seu pequeno dedo muito bem maneirado. Ela faz uma aparição na “estupre a garota branca” de Baraka[2], como a “coisa séria” de Cleaver depois da prática de alvo em mulheres negras[3], como o vampiro brilhantemente afiado e distante de Helmut Newton (1976) e, como o Central Park Jogger, a madonna branca cheia de classe que foi violada e espancada quase até a morte.
Ela balança seus cabelos, se sente linda o tempo todo, reclama sobre a ajuda às pessoas de cor, dá más gorjetas, não pode fazer nada, não faz nada, não sabe nada, e fantasia alternadamente entre transar com homens negros e acusá-los de estupro. Como Ntozake Shange ressalta, toda civilização ocidental depende dela (1981, página 48).
Além de tudo isso, por impudência, imitatividade, pique e uma simples falta de algo significativo, ela acha que precisa ser liberada. Sua encarnação feminista é tudo aquilo que já foi dito, e culpada por cada uma dessas coisas, tendo a força de repetição refinada dizendo “Me desculpe” como uma grande forma de arte. Ela não consegue nem fazer suas próprias músicas.
Há, obviamente, muitas dessas, dessa “mulher, modificada”, essa mulher descontada pela pele branca, significando que ela seria oprimida se não fosse seu privilégio. Mas esta imagem raramente vem cara a cara com o resto de sua realidade: o fato de que a maioria dos pobres são mulheres brancas e seus filhos (pelo menos metade dos quais são do sexo feminino); que as mulheres brancas são sistematicamente maltratadas em suas casas, assassinadas por companheiros e assassinos em série, molestadas na infância, realmente estupradas (principalmente por homens brancos), e que mesmo os homens negros, em média, fazem mais do que eles.[4]
Se alguém não soubesse isso, poderia comprar a imagem que os homens brancos pintam das mulheres brancas: que o pedestal é real, em vez de uma gaiola para confinar e banalizá-las e segregá-las do resto da vida, um veículo para a infantilização sexualizada, uma configuração virginal de estupro para homens que gostam de violar as puras, e um mito com o qual tentar controlar mulheres negras. (Veja, se você deitasse e ficasse quieta sem mexer, nós iríamos reverenciá-la também)
Poder-se-ia pensar que o mito dos homens brancos de que eles protegem as mulheres brancas era real, em vez de uma capa racista para garantir seu acesso sexual exclusivo e sem obstáculos — o que significa que podem estuprá-la à vontade, e estupram, e fazer uma postura boa na exclusão do estupro conjugal e a lei do estupro, inútil em sua grande parte. Pensaríamos que as únicas mulheres brancas em bordéis no Sul durante a Guerra Civil estavam em Gone With the Wind.
Isso não quer dizer que não exista um privilégio de pele, mas sim que nunca isolou as mulheres brancas da brutalidade e da misoginia dos homens, principalmente, mas não exclusivamente dos homens brancos, ou de sua legalização efetiva. Em outras palavras, as “garotas brancas” desta teoria falham bastante a realidade das mulheres brancas na prática da supremacia masculina.
Sob a trivialização da subordinação da mulher branca implícita na desdenhosa zombaria “mulheres brancas economicamente privilegiadas” (uma frase que se tornou uma palavra, a precisão de alguns de seus termos raramente documentados mesmo em revistas de direito) reside na noção de que não existe essa coisa de opressão das mulheres como tal. Se a opressão das mulheres brancas é uma ilusão de privilégio e um saque e redução do movimento dos direitos civis, somos informadas de que não há existe esse negócio de mulher, que nossa prática não produz nenhuma teoria e que não existe esse negócio de discriminação com base no sexo.
O que estou dizendo é que argumentar que a opressão “como mulher” nega, em vez de englobar o reconhecimento da opressão das mulheres em outras bases, é dizer que não existe tal prática de desigualdade sexual.
Vamos ver de outro ângulo:
Como mencionei, tanto Mechelle Vinson quanto Lillian Garland são mulheres afro-americanas. Mechelle Vinson não era sexualmente assediada como mulher? Lillian Garland não estava grávida como uma mulher? Elas achavam que sim. A questão toda no caso delas era entender suas lesões como “baseadas no sexo”, ou seja, porque são mulheres. Os perpetradores e as políticas sob as quais elas estavam em desvantagem as viram como mulheres. O que é ser uma mulher se isso não inclui ser oprimida como uma?
Quando as Alterações da Reconstrução “deu o voto aos negros”, e as mulheres negras ainda não podiam votar, não foram impedidas de votar “como mulheres”? Quando as mulheres afro-americanas são estupradas duas vezes mais vezes que mulheres brancas, não são estupradas como mulheres? Isso não significa que sua raça é irrelevante e isso não significa que suas lesões possam ser entendidas fora do contexto racial. Invés disso, significa que o “sexo” é constituído pela realidade das experiências de todas as mulheres, incluindo as suas. É uma unidade composta em vez de um todo unitário dividido, de modo que cada mulher, a seu modo, é todas mulheres. Então, quando mulheres brancas são sexualmente assediadas ou perdem seus empregos porque estão grávidas, também não são mulheres?
O tratamento das mulheres na pornografia mostra essa abordagem em relevo gráfico. De uma maneira ou de outra, todas as mulheres estão na pornografia. As mulheres afro-americanas são apresentadas na escravidão, lutando, em gaiolas, como animais insaciáveis. Como Andrea Dworkin mostrou, a hostilidade sexualizada dirigida contra elas torna sua pele num órgão sexual, enfocando a agressão e o desprezo direcionados principalmente aos órgãos genitais de outras mulheres (1981, pp. 215–16). As mulheres asiáticas são passivas, inertes, como se estivessem mortas, torturadas indizivelmente. As latinas são “hot mommas”. Preencha o resto de cada estereótipo racial desprezível e hostil que você conhece; é sexo aqui.
Isso não é feito com os homens, não na pornografia heterossexual. O que é feito com as mulheres brancas é um tipo de chão; é o melhor que qualquer uma é tratada e rola da Playboy ao sadomasoquismo ao rapé. O que é feito para as mulheres brancas pode ser feito para qualquer mulher, e depois algumas. Isso não faz das mulheres brancas a essência da mulheridade. É uma realidade observar que isso é o que pode ser feito e é feito às mais privilegiadas das mulheres. Este é o privilégio de uma mulher: mais valorizada como carne morta.
Quero dizer que cada mulher está na pornografia como a encarnação de suas particularidades. Isso não está em tensão com estar lá “como uma mulher”, é o que estar lá como uma mulher significa. Sua especificidade compõe o que é gênero. Branco, por exemplo, não é uma categoria residual. Não é um padrão contra o qual o resto é “diferente”. Não existe uma “mulher” genérica na pornografia. Branco não está desmarcado; é um gosto sexual específico. Ser definido e usado desta forma define o que ser uma mulher significa na prática. Robin Morgan disse uma vez: “a pornografia é a teoria, a violação é a prática” (1978, p. 169). Isso é verdade, mas a revisão de Andrea Dworkin é mais verdadeira: “A pornografia é a teoria, a pornografia é a prática”. Esta abordagem de “o que é uma mulher” é uma reminiscência da resposta de Sartre à pergunta “o que é judeu?” Comece com o antissemita[5].
Na minha opinião, o subtexto à crítica da opressão “como mulher”, a crítica que sustenta que não existe isso, é a desidentificação com as mulheres. Uma das suas consequências é a destruição da base para uma jurisprudência de igualdade sexual. Um argumento avançado em muitas críticas por mulheres de cor tem sido que as teorias das mulheres devem incluir todas as mulheres e, quando incluírem, a teoria mudará. Por um lado, isso é necessariamente verdadeiro. Por outro, isso ignora as contribuições formativas das mulheres de cor para a teoria feminista desde a sua criação.
Também sinto que muitas mulheres, não só mulheres de cor e não apenas acadêmicas, não querem ser “apenas mulheres”, não só porque algo importante é deixado de fora, mas também porque isso significa estar em uma categoria com “ela”, a mulher branca inútil, cuja primeira reação quando as coisas ficam difíceis é chorar. Eu sinto aqui que as pessoas sentem mais dignidade em fazer parte de um grupo que inclui homens do que fazer parte de um grupo que inclui a redução final da noção de opressão, instigadora de atos de linchamento, aquela chorona ridícula, aquela biscoiteira, a mulher branca.
Parece que, se a sua opressão também for feita a um homem, é mais provável que seja reconhecida como oprimida, em oposição a inferior. Uma vez que um grupo é visto como putativamente humano, um processo ajudado por incluir homens nele, um homem oprimido cai de um padrão humano[6]. Uma mulher é apenas uma mulher — a vítima ontológica –, por isso não é vítima de todo.
Ao contrário de outras mulheres, a mulher branca que não é pobre ou classe trabalhadora ou lésbica ou judaica ou incapacitada ou velha ou jovem não partilha sua opressão com nenhum homem. Isso não torna sua condição mais definitiva do significado de “mulheres” do que a condição de qualquer outra mulher. Mas banalizar sua opressão, por não ser potencialmente racista, classista ou heterossexista ou anti-semita, define o significado de ser “anti-mulher” com uma clareza especial.
Como a mulher branca é imaginada e construída e tratada torna-se um indicador particularmente sensível do grau em que as mulheres, como tal, são desprezadas. Se construímos uma teoria da prática das mulheres, composta pela diversidade de experiências de todas as mulheres, não temos o problema de que alguma teoria feminista tenha sido justamente criticada. Quando temos, é quando fazemos teoria a partir das abstrações e aceitamos as imagens que nos são forçadas pelo domínio masculino.
Eu disse tudo isso para poder dizer que: a suposição de que todas as mulheres são iguais é parte do fundamento do sexismo de que o Movimento das Mulheres é predicado em desafios. Que alguns acadêmicos tenham dificuldade em teorizar sem reproduzi-lo simplesmente significa que eles continuam a fazer às mulheres o que a teoria, baseada na prática do domínio masculino, sempre fez às mulheres. É a noção deles do que é a teoria, e sua relação com seu mundo, que precisa mudar. Se a nossa teoria do que é “baseado no sexo” faz do gênero as práticas sociais reais dirigidas de forma distinta contra as mulheres, à medida que as mulheres as identificam, o problema que a crítica do chamado “essencialismo” existe para corrigir deixa de existir. E esta ponte, da prática para a teoria, não é construída nas costas de ninguém.
[1] Spelman (1988, pp. 164–66, 174, 186) define o “essencialismo” em grande medida em termos de princípios centrais do feminismo radical, sem ser claro se a experiência “como uma mulher” que ela identifica no feminismo radical é uma construção social ou biológica. Tendo feito isso, torna-se fácil concluir que a “mulher” do feminismo é uma projeção destilada da vida pessoal de algumas fêmeas biológicas comparativamente poderosas, ao invés de uma síntese congelada da situação social vivida das mulheres como uma classe, historicamente e no mundo todo.
[2] Imamu Amiri Baraka também é conhecido como LeRoiJones (Baraka: 1964, pp. 61, 63).
[3] “Eu me tornei um estuprador. Para refinar minha técnica e modus operandi, eu comecei praticando em meninas negras no gueto… e quando eu me considerei bom o bastante, eu atravessei os trilhos e fui atrás das presas brancas”. “Estuprando a garota branca” é como uma atividade para homens negros, é descrita como um dos “fatos divertidos da vida”. Num contexto racista em que a meninice branca da garota branca é sexualizada — isto é, feito um local de luxúria, ódio e hostilidade — para o homem negro através da história do linchamento. Eldridge Cleaver (1968, pp.14–15).
[4] Em 1989, o rendimento médio das mulheres brancas era, aproximadamente, 1/4 a menos que dos homens negros; em 1990, era 1/5 a menos. U.S. Bureau of the Census, Current Population Report (1991, p. 60).
[5] “Assim, para saber o que é o judeu contemporâneo, devemos perguntar à consciência cristã. E devemos perguntar não “o que é um judeu?”, mas sim “o que você fez dos judeus?”. O judeu é aquele que outros homens consideram um judeu: essa é a verdade simples a partir da qual devemos começar. Neste sentido … é o antissemita que faz o judeu.” Jean-Paul Sartre (1948).
[6] Sinto uma dinâmica similar no trabalho na atração entre algumas lésbicas de identificação com “direitos LGBT” em vez de “direitos das mulheres”, com o resultado de obscurecer as raízes no domínio masculino da opressão de ambos, lésbicas e homossexuais.