Quando me perguntam ou mesmo afirmam que sou lésbica porque não uso maquiagem, nem depilo e geralmente visto roupas confortáveis (entre outras recusas de signos da feminilidade que ultrapassam a estética), o que estão confirmando é que a feminilidade é, fundamentalmente, o papel de submissão à masculinidade. O ritual de domesticação da mulher ao homem. Diretamente, fundamentalmente e em absoluto.
Quando ouso ser uma mulher “natural” — ou seja, não tento corrigir olheiras e marcas com quilos de produtos químicos, não tento mutilar minha proteção natural com cera quente ou laser ou lâmina, não tento andar como uma boneca Barbie em roupas apertadas, hiperssexualizadas e sapatos desconfortáveis — assumem que não gosto de homens, não quero ser ‘notada’ por homens, mas sim que estou interessada em mulheres (revelador, não é? É aquilo que a gente diz: quem gosta de mulheres são as lésbicas, homens gostam de feminilidade!).
Por isso disse e volto a afirmar, que até hoje ninguém conseguiu me provar o contrário:
Feminilidade é submissão ritualizada.
Feminilidade é a marca não com a qual nos identificamos, mas com a qual nos identificam (externamente) na sociedade. É o ferro quente que marca a carne, o gado, para saber a quem aquele animal, como s eobjeto fosse, pertence e quem pode fazer o quê e como.
A feminilidade é construída de maneira diferente nas sociedades e através dos tempos. Mas nunca significou mais que submissão, mesmo quando colocava a mulher num [frágil, falso e intocável] pedestal. Inútil, imóvel, mistificada.
A feminilidade também é diferente de acordo com que posição você ocupa na pirâmide racial, mas ela tem sido paulatinamente cada vez mais pausterizada — e fato é que continua a significar submissão aos homens e hiperssexualização (porque isso objetifica e desumaniza, rebaixando o status humano da mulher e, portanto, deslegitimando-a como sujeito político). Seja com a imagem da “santa na rua, puta cama” das mulheres brancas, da “mulata quente fogosa” das mulheres negras ou das “exóticas” mulheres indígenas e asiáticas.
Nos nossos tempos, a feminilidade é em grande parte, embora não só, informada por padrões pornográficos do que é uma mulher, de como uma mulher se veste, se comporta e o que ela quer (ser notada e submetida por homens para reforçar a sua masculinidade e o status social que isso implica). Todas nós estamos lá, recebendo carimbos diferentes: jovens, idosas, mães e não-mães, estudantes e trabalhadoras, loiras e negras, asiáticas e indígenas, gordas e magras, mulheres com diversidade funcional ou não. Mesmo que não assistamos pormografia, ela está suficientemente infiltrada e presente nas nossas midias para que sejamos influenciadas por ela. Basta ver como muitos outdoors ou comerciais de perfume, carros e roupas hoje podiam facilmente se enquadrar na pornografia do ontem, de há 40 anos atrás. O que isso mostra é como a pornografia empurra cada vez mais os nossos limites, as fronteiras de acesso e hiperssexualização do corpo feminino.
Isso não é uma identidade. Para mulheres, isso é a marca da opressão.
Isso é COMO a opressão opera, nos separa e qualifica socialmente. Como nos dominam, como nos submetem e como nos esterilizam politicamente. E isso é definido e empurrado e imposto a nós, mulheres, desde que nascemos, quando identificam nosso sexo. O “mundo rosa” das “mães (e pais) de meninas”, com furos na orelha e pérolas que oferecem risco de vida até a mutilação genital, o amarrar de pés, o passar seios a ferro ou as molas no pescoço das mulheres-girafas.
É por isso que precisa ser destruída, não reivindicada. É por isso que reivindicamos “mulher” como uma palavra que meramente designa um ser humano adulto do sexo feminino. Não porque queremos ser reduzidas ao nosso sexo, mas porque não queremos que nos reduzam a objetos e bonecas sexuais e seres inanimados ao identificarem nosso sexo.
Mulher é uma pessoa adulta do sexo feminino que pode ter qualquer personalidade, qualquer gosto, vestir qualquer coisa. E não uma pessoa com um tipo de gosto, um tipo de personalidade, que pode ter qualquer corpo.
Nós queremos romper com os padrões que amarraram ao nosso sexo para controlar a nossa capacidade reprodutiva e nos submeter a homens.
Nós não queremos reivindicá-lo.
Esse é o princípio básico do movimento de libertação das mulheres: somos humanas, não objetos. De-sexualizar a mulher, desmistificá-la, retirar das mãos dos homens o poder de definir e delimitar o quê e como é uma “mulher”, todas essas são tarefas revolucionárias que o movimento de libertações das mulheres assumiu para si, como um passo necessário para a nossa emancipação.
E qualquer pessoa que tente nos prender a esse lugar, dizendo que nossa opressão é uma identidade, reforçando que ser mulher é consentir para o confinamento dentro dos signos da feminilidade, está sujeita a ser devidamente criticada pelo movimento feminista, pelas mulheres.
E NÃO, isso não é discurso de ódio.
Discurso de ódio é a propaganda da feminilidade, a sua reafirmação. A feminilidade é expressão de ódio.
O ódio e o fetichismo dos homens amarrados como grilhões de ferros nas trompas uterinas das mulheres.
Leituras sugeridas:
- Por que você quer se parecer com um homem?
- Sobre sentir-se como uma mulher
- Fui uma sapatão que pôde ser mulher; receio que as mais novas não possam…
- A Esquerda fecha com o Capitalismo na “Identidade de Gênero”
- O Segundo Sexo do Segundo Sexo
- Gênero e Materialismo
- Como se tornou progressista romper os limites das mulheres





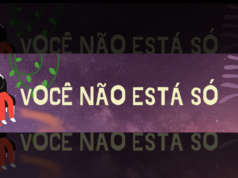

Obrigada por este texto maravilhoso! Vamos juntas! <3
Comentários estão fechados.